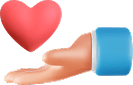A Aranha Não era a aranha. Era o fio... Carolina Marinho
A Aranha
Não era a aranha.
Era o fio invisível
que me prendia há anos
no mesmo canto do quarto.
A aranha só apareceu
quando o cansaço já tinha nome,
quando o corpo já vivia
em modo de vigília permanente,
como se a paz fosse um boato.
Ela não ameaçava —
eu é que já estava ferida.
Ela não atacava —
eu é que vinha lutando sem armas,
no escuro,
há tempo demais.
A aranha virou símbolo:
do medo que não dorme,
do pensamento que insiste,
do dia que apaga o pouco de luz
que tentou nascer.
Eu não queria o fim.
Eu queria descanso.
Queria um lugar onde o peito
não precisasse se defender o tempo todo.
Queria existir
sem estar sempre aguentando.
E alguém gritou “levanta”,
como se levantar fosse simples,
como se coragem curasse exaustão,
como se a dor tivesse botão de desligar.
Mas ali, naquele instante,
o que me salvou
não foi a vassoura,
nem a força,
nem a razão.
Foi o fio mais frágil de todos:
ser vista.
Ser ouvida.
Permanecer.
A aranha ficou.
O medo também.
Mas eu fiquei mais um pouco —
e, por enquanto,
isso basta.