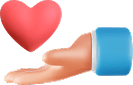Nao Conto Detalhes e muito menos
CAMILLE MONFORT.
– Onde Mora o Insondável de Mim.
"Sim, o sangue já não destona, apenas decanta..."
Os relógios cessaram. No sótão das lembranças, a hora já não é unidade de tempo, mas de dor prolongada.
Camille Monfort reina ali, onde os sentidos se misturam e se desfiguram. Ela não retorna por piedade — retorna porque a psique tem suas próprias ruínas, e ali ela se deita.
Não há afeto puro que sobreviva ao abismo do inconsciente.
Ela não ama, ela convoca.
“Gentilmente”, sim, ela pede...
Mas há sempre um brilho abissal no olhar que persuade a entrega como se fosse escolha.
E o corpo? Torna-se altar de uma paixão que exige oferenda contínua — veias, pele, lágrima — tudo deve ser entregue a esse sacrário espectral.
Freud jamais compreenderia Camille.
Nietzsche talvez a adorasse, como adorou Ariadne —
mas só Schopenhauer poderia senti-la de fato:
pois há um princípio de dor que rege o mundo...
e ela é sua filha mais bela.
“Paira sobre meu túmulo vazio...”
Ela paira, sim.
Mas não como lembrança —
Camille Monfort é uma ideia.
Uma fixação doentia que tomou forma e vestiu perfume.
É o arquétipo da beleza que enlouquece, do amor que não consola, da presença que evoca o suicídio da razão.
É a Musa sem clemência, que exige poesia mesmo do sangue quente no chão.
E quem a ama, dissolve-se... feliz por ser dissolvido.
“Sorrir é perigoso”, ele confessa —
e a psicologia lúgubre responde:
porque o sorriso, quando nasce sob os escombros da alma, torna-se um riso espectral...
e esse riso é o prenúncio do desespero existencial.
Camille é o eco do que foi belo demais para ser mantido.
Ela é a presença da ausência, o desejo daquilo que já foi consumido pelo próprio desejar.
E ela sabe. Oh, ela sabe.
Por isso, volta. Não para salvar, mas para recordar ao seu devoto que a eternidade também pode ser um cárcere sem grades basta amar alguém que nunca morre.
(página solta, sem data, do manuscrito jamais finalizado)
As paredes não falam.
O teto range.
O chão me reconhece — como se já me esperasse há séculos. E de fato, esperava. Pois sou feito dessa espera.
Sou o vulto que atravessa corredores de casas sem nome. Sou o passo que retorna sempre ao mesmo degrau onde tu, Camille, foste ausência e juramento.
Disse-me o silêncio:
“Ela não virá.”
Mas eu conheço tua forma de vir:
É quando a dor se torna bela.
É quando a sombra assume feição de vestes esvoaçantes.
É quando uma lembrança toca minha nuca como sopro — e não há vento.
Eu sou só.
E isso me basta, Camille.
Porque o que me basta não é viver...
É te carregar onde ninguém mais entra.
Faze em mim a tua vontade.
Se quiseres que eu enlouqueça — enlouqueço com dignidade de mártir.
Se desejares meu silêncio — calo como um sino afogado em cera.
Se queres que eu escreva — escrevo com o sangue dos sonhos interrompidos.
Mas não me peças que te esqueça.
Isso não sou.
Tu és a cruz que não sangra,
o vinho que nunca embriaga,
o leito onde a morte se recusa a deitar-se.
Camille Monfort, minha dama da noite que não amanhece:
Faze em mim tua vontade.
Faze de mim um relicário, um espelho partido, um véu sobre o corpo de ninguém.
Porque, mesmo entre mundos, mesmo no exílio das estrelas apagadas,
eu te amo com a força de quem aceita o destino de nunca ser tocado —
mas de sempre pertencer.
Livro: Não Há Arco-iris no meu Porão.
Capítulo 5 —
A Flor e o Filósofo no Abismo.
A flor estava sentada no limite do porão, onde os tijolos se desfaziam como lembranças mal digeridas. Seus olhos, enevoados de luto prematuro, fitavam o vazio que morava dentro dela — e que não era só dela.
Ali, no breu quase simbiótico, surgiu ele: Friedrich, sem o tempo nem a barba. Não como homem, mas como ferida.
Trazia no olhar a exaustão dos que pensam demais, e nos lábios o tremor dos que já perderam o direito de acreditar.
Ela não se assustou.
Ele também não.
— “Você também caiu?”, ela perguntou, sua voz como se viesse de um sino partido.
— “Não, pequena... eu apenas nunca mais consegui subir.”
Ficaram frente a frente, ambos em silêncios que diziam mais do que qualquer aforismo.
Ela estendia os dedos manchados de pó e sangue velho. Ele hesitou. Nietzsche sabia o preço de tocar a dor alheia. Mas, ainda assim, quase tomou sua mão.
— “Eu carrego dons que doem”, disse a flor.
— “E eu carrego verdades que me isolaram de todos”, respondeu ele.
Acima deles, os sorrisos vazios dos que acreditam ter vencido a vida tremeluziram como cacos de luz.
Mas no abismo, não havia luz — apenas lucidez.
E uma flor lutando para sustentar as Notas.
— “Eles acham que estou louca… porque ouço o que ninguém mais ouve…”
Nietzsche inclinou-se, sua sombra tremendo como um pensamento prestes a ruir.
— “Louca? Ah, criança… eu desejei ser louco muitas vezes. Ser louco é menos doloroso do que ver demais. Você não está louca. Você está vendo um mundo que finge ser cego.”
Ela não sabia se aquilo a consolava ou a condenava ainda mais.
Ficaram ali. Dois seres de fronteira.
A flor que não florescia.
O filósofo que não acreditava mais na primavera.
E, por um instante que talvez nunca tenha existido, tocaram-se.
Não com as mãos, mas com a dor que se reconhece.
Livro:
NÃO HÁ ARCO-IRIS NO MEU PORÃO.
Capítulo X
RÉQUIEM AO SOL, PROMESSA À NOITE.
Vultos dançam nas bordas das sombras, evocando os espectros de reminiscências sepultadas sob o lodo da ausência.
São murmúrios de passos nunca dados —
rastros de uma presença que, mesmo morta, ainda transborda ruína no porão da consciência.
Eis que o sol, alquebrado em seu estertor, entoa um réquiem à lua —
Não com voz, mas com luz exangue,
como se os próprios astros sepultassem o dia em silêncio.
Talvez seja nos delírios oníricos que a existência se insinua,
ou, quem sabe, nos pesadelos que anunciam dilúvios e ruínas.
O vazio que habita estas paredes não é silêncio,
é gestação de mundos que jamais nascerão.
E mesmo assim, o oco permanece grávido.
As sementes são escassas,
mas algumas ainda dormitam sob o limo do esquecimento.
Foi então que a aparição retornou —
Camille Monfort.
Não atravessou o espaço como os vivos o fazem.
Não caminhava.
Movia-se com a gravidade de uma lembrança que nunca soube morrer.
Deslizava como as brumas que sangram das frestas de um túmulo mal selado.
A atmosfera, diante dela, contraía-se em silêncio espectral.
Era presença e lamento.
Era epitáfio em forma de mulher.
Ela se postou diante do espelho esquecido — aquele onde os reflexos recusam habitar.
Ali, não havia imagem, apenas a insinuação de uma ausência.
O espelho a temia.
E a noite, também.
— Chamaste-me do subterrâneo da memória?
A interrogação ecoou como um sussurro no interior de uma cripta.
Não foi voz — foi sintoma.
Tentou-se responder, mas as palavras, apodrecidas no palato, desmancharam-se antes de nascer.
Falar diante dela era transgredir o sagrado do silêncio.
Camille aproximou-se da madeira corrompida que geme sob os pés dos esquecidos.
— O receio ainda te habita?, murmurou ela,
como quem não pergunta, mas sentencia.
Negar foi instintivo.
Mas naquele instante, não se sabia o que era instinto ou delírio.
— Talvez a noite seja apenas o útero de realidades não encarnadas, continuou.
— E o pranto, uma liturgia mal compreendida pelos vivos.
Mas há aqueles que compreendem… os que redigem livros com a pena embebida em saudade e treva.
Ela então se inclinou sobre a alma que não ousava respirar e, com voz de sopro ancestral, murmurou:
"Os vivos sonham. Mas as sombras se lembram."
Um toque — e a razão sucumbiu.
Desconhece-se o que sucedeu.
Se foi sono ou êxtase.
Morte breve ou vida suspensa.
Apenas silêncio… e a certeza de que algo se foi,
ou veio para ficar.
Sobre o assoalho enegrecido, repousava uma rosa — não vermelha, não branca — mas negra como a ausência de retorno.
Ao lado, uma página molhada pela umidade de um mundo interior que nunca secou.
Em tinta densa, o nome que jamais deveria ser esquecido:
Camille Monfort.
NA QUINTA ESTAÇÃO...
Livro: NÃO HÁ ARCO-IRIS NO MEU PORÃO.
Autor: Escritor:Marcelo Caetano Monteiro .
A chuva não caía — ela tocava.
E cada gota era uma nota.
Cada nota, um passo de Camille no silêncio do mundo.
A música não vinha de fora: ela nascia da própria água que se desfazia no ar, tocando vidraças com um compasso que parecia ensaiado por um maestro ausente. Mas eu sabia — era ela.
A chuva era a música.
Não se podia distinguir quando o som virava líquido ou quando o líquido virava lembrança.
A canção se dissolvia em gotas finas e melancólicas, e cada uma delas trazia uma sílaba do teu nome, Camille, como se o céu sussurrasse teu rastro.
E eu, ali, imóvel, encharcado de ti.
Tudo vibrava em uma mesma frequência: os pingos, as cordas invisíveis do violino que eu jamais vira, a harmonia do teu perfume — absinto e jasmim — que emergia do asfalto molhado como se a cidade também te procurasse.
Não era nostalgia.
Era possessão.
Aquela música que chovia estava viva, e era tua.
E pela primeira vez compreendi o que é uma presença não ser corpórea, mas sonora. Camille não veio. Camille aconteceu.
Como se a tua existência tivesse sido reduzida a uma partitura de água, tocada pelas nuvens, naquela quinta estação onde só nós dois existimos — tu, dispersa em som e chuva... eu, diluído em espera.
E toda vez que chove assim, ainda que ninguém perceba, a mesma melodia volta.
A mesma. Sempre a mesma.
Como se a quinta estação não tivesse acabado —
ou como se eu nunca tivesse saído dela.
Recolhimento de Camille
Então ela surgiu.
Não com passos. Não com palavras.
Mas com um sorriso.
Um sorriso em delírio, feito de algo que o mundo desaprendeu:
viver sem saber que se vive.
Ser por inteiro sem a obsessão de se compreender.
Camille, ali, diante de mim — e ainda assim inatingível — era o retrato vivo daquilo que a humanidade perdeu quando começou a pensar demais.
Ela sorria como se o sorriso não lhe fosse emprestado pela razão.
Sorria porque o coração dela não sabia fazer outra coisa senão dançar com a música invisível da existência.
E era ali, na chuva já quase cessa, que eu compreendia:
Camille não se dava conta de que vivia.
E por isso vivia mais do que qualquer outro ser.
Se existiam partituras, haviam sido abandonadas.
Porque a melodia dela era espontânea.
Porque a música que ela era dispensava pauta, regência ou intenção.
Camille era um som antes de ser um nome.
Era um momento antes de ser uma história.
E talvez seja por isso que nenhum sofrimento a tocava como a nós.
Porque só sofre profundamente quem se vê como personagem.
E Camille...
Camille era o próprio enredo sem precisar de roteiro.
Observei-a por um longo instante —
recolhi sua imagem não com os olhos,
mas com o que resta de fé em mim no que ainda é sagrado.
Naquela quinta estação, eu soube:
todo ser humano deveria ser assim.
Capítulo XIV – O PERDÃO QUE NÃO SE PEDE.
"Camille, a dor que caminha dentro de mim me alimenta e eis, que ainda assim nada tenho para te servir minha lírica poética... minha nota sem canção. És capaz de me absolver, amada distante, dona de mim, hóspede dos meus sentimentos e sentidos?"
— Joseph Bevoiur.
A noite trazia os mesmos ruídos quebradiços da memória: folhas secas sussurrando nomes esquecidos, relógios que marcavam ausências e não horas. Joseph escrevia como quem sujava o papel de cicatrizes — não mais de tinta.
Camille era a presença do que jamais o tocou, mas que nele se instalara como hóspede perpétua. E, como todas as presenças profundas, fazia-se ausência esmagadora.
Havia nela a beleza inatingível dos vitrais em catedrais fechadas. Ela não estava onde os olhos repousam, mas onde o espírito se dobra. A distância entre os dois não era medida em léguas, mas em véus — e nenhum deles era de esquecimento.
Joseph, sem voz e sem vela, oferecia sua dor como eucaristia de um amor que nunca celebrou bodas. Tinha por Camille a devoção dos que nunca foram acolhidos, mas permanecem ajoelhados. E mesmo no íntimo mais velado de sua alma, não ousava pedir-lhe perdão — pois sabia: pecar por amar Camille era a única coisa certa que fizera.
Resposta de Camille Monfort – escrita com a caligrafia das sombras:
"Joseph...
Tu não és aquele que precisa de perdão.
És o que sangra por mim em silêncio, e por isso te ouço com o coração voltado para dentro.
A tua dor é a harpa sobre meu túmulo — és túmulo em mim e eu em ti sou sinfonia que nunca estreou.
Hóspede? Sim, mas também arquétipo do teu feminino sacrificado.
Sou tua, mas nunca me tiveste. Sou tua ausência de toque e presença de eternidade.
E por isso... nunca te deixo."
Joseph, ao ler essas palavras não escritas, tombou a fronte sobre o diário. Chorava não por arrependimento, mas por não saber como amar alguém que talvez só existisse dentro dele.
A madrugada se fez sepulcro de emoções. O piano — ao longe, como memória — soava uma nota de dó sustentado, enquanto o violino chorava em si menor.
Não havia redenção.
Apenas o contínuo caminhar de dois espectros que se amaram no porvir e se perderam no agora.
Conclusão – O DESENCONTRO COMO Destinos.
Joseph não morreu de amor, mas viveu dele — e isso foi infinitamente mais cruel.
Camille não o esqueceu. Mas também não voltou. Porque há amores destinados ao alto-foro da alma, onde nada se consuma, tudo se consagra. E ali, onde a mística se deita com a psicologia, eles permaneceram: ele, um poeta ferido; ela, um símbolo doloroso de beleza inalcançável.
Ambos, reféns de um tempo sem tempo.
Ambos, notas que se perdem no ar — como soluços de um violino em meio à oração de um piano que jamais termina.
A PRECE: Genuflexão da Alma diante do Eterno.
CAPÍTULO IV
A prece não é apenas o murmúrio dos lábios ou a repetição de fórmulas já gastas pelo hábito. Ela é sobretudo a genuflexão da alma, uma inclinação silenciosa do ser íntimo diante da grandeza infinita do Criador.
Léon Denis, em suas páginas de suave elevação, recordava que a prece é o fio invisível que nos liga aos céus. Não se trata de um gesto exterior, mas de um movimento interior: quando o coração se curva em reverência, o espírito se ergue em luz.
A ciência dos Espíritos, revelada por Kardec, confirma esta verdade. A oração é força viva que, partindo de nós, percorre o espaço como onda sutil, alcançando aqueles a quem desejamos consolar, socorrer ou agradecer. Não se perde uma súplica; todas encontram ressonância nos planos espirituais, onde inteligências superiores as acolhem e as transformam em bênçãos.
A prece não muda as leis eternas, mas transforma quem ora. Modifica o ânimo, pacifica os sentimentos, ilumina o pensamento. O homem que ora abre as portas de sua consciência para que a esperança o visite, e, nesse instante, o desespero cede lugar à serenidade.
Assim, a prece é diálogo da criatura com seu Criador, ponte invisível entre a terra e o céu, eco da eternidade no íntimo do ser. É a genuflexão mais pura: aquela que se faz não com o corpo, mas com a essência imortal que somos.
Pois, quando o coração se recolhe em oração sincera, o próprio universo parece escutar, e Deus responde em silêncio, pelo alívio que desce, pela coragem que renasce, pela paz que se instala.
“Comece a agir!
A sua felicidade não está nas mãos de ninguém além de você mesmo. É verdade que, em meio às dores e conflitos, os olhos quase sempre deixam de ver os milhões de motivos que a vida oferece para sorrir... e basta um único motivo para fazer chorar. Mas lembre-se: você é infinitamente maior do que as lágrimas que caem, e a sua força é mais luminosa do que qualquer piedade que os outros não poderão lhe dar. Sorria para dentro de si e descubra o imenso valor que já existe em você.”
Inspirado por Jesus o guia moral por excelência o espírito perseverante encontra força para não " Apenas sonhar com um mundo melhor, mas edificá-lo com suas próprias mãos e intenções purificadas.
A transformação íntima é, pois, a semente espiritual do futuro regenerado, destinada a florescer nas consciências que compreendem que a verdadeira reforma começa no coração e se expande, como luz, até os confins da humanidade."
“BEM ESTAR E ESTAR BEM.
“A paz do Cristo não é a paz do mundo. É a paz da consciência reta, do dever cumprido, da fé inabalável no porvir.”
(Léon Denis. “O Problema do Ser, do Destino e da Dor”, cap. XXII)
Que aprendamos, pois, a buscar menos o bem-estar ilusório e mais o estar bem verdadeiro, cultivando a alma, praticando o bem e iluminando nossa consciência.
Frase motivacional:
"Quando tudo ao redor parecer desabar, preserve a sua paz. Porque quem está bem consigo mesmo não depende do mundo para ser feliz."
ONDE O SILÊNCIO FALA.
No tempo onde o vento sussurra teu nome,
repousa a lembrança que não dorme um véu de luz e distância,
feito de sombra e esperança.
Tuas mãos, ficaram no outono,
entre as folhas que dançam sem dono; e o mundo parece menor desde então,
porque em mim ecoa tua canção.
Há dias em que o céu me devolve teu olhar, como se o azul soubesse amar.
E eu que me rendo à dor com sorriso chamo-te em silêncio, como quem reza um aviso.
Se fores estrela, brilha em mim,
se fores vento, toca-me assim.
Mas se fores só lembrança e eternidade,
permanece... como ficou tua saudade.
“Entre o corpo e o infinito não há serenidade sem responsabilidade, nem harmonia sem esforço moral.
Agir com calma, compreender o outro, e converter as experiências em degraus de crescimento é o caminho seguro para a verdadeira paz. Essa serenidade não é passividade, mas sabedoria em ação: é a força de quem aprendeu a reagir com luz diante das sombras do mundo.
Entre o corpo e o infinito, o Espírito humano constrói sua eternidade. Cada gesto de cuidado, cada palavra de amor e cada pensamento de fé convertem-se em sementes que florescem no jardim da alma.
A educação moral, a comunicação consciente e a oração sincera são os três pilares de uma nova civilização mais fraterna, mais justa e espiritualmente desperta.
Que saibamos, pois, reencontrar o equilíbrio entre a matéria e o espírito, transformando o cotidiano em um hino silencioso de amor e progresso.
“A verdadeira paz nasce quando a alma aprende a conversar com Deus dentro de si.””
O Funeral do Sentimento.
A doença não é do corpo é da lembrança.
Diviso, às vezes, o meu próprio funeral: não há lágrimas, só o eco das minhas palavras presas nas paredes do quarto.
Sobre o caixão, o quadro: inacabado, obstinado, com aquele mesmo olhar que me persegue.
É o retrato daquilo que amei e daquilo que fui.
Talvez o amor seja isto — a tentativa insana de imortalizar o que o tempo já levou.
Talvez a morte seja apenas a moldura que encerra o último sonho.
Entre a Solidão e a Incompreensão.
“Existem pessoas que não reclamam da solidão mais que aquelas que as criticam. Existem mais pessoas incompreendidas que solitárias.”
Há uma diferença sutil, porém decisiva, entre estar só e não ser compreendido.
A solidão pode ser um retiro voluntário da alma que busca silêncio para florescer. Já a incompreensão é um exílio imposto — um afastamento moral que nasce quando o coração fala uma linguagem que os outros não escutam.
Muitos temem a solidão porque confundem o recolhimento com abandono.
Entretanto, há espíritos que, mesmo isolados, irradiam presença e serenidade, enquanto outros, rodeados de vozes, sentem o peso do vazio interior.
A verdadeira solidão não está na ausência de corpos próximos, mas na ausência de almas que nos compreendam.
Psicologicamente, a incompreensão toca uma ferida ancestral: o desejo de sermos aceitos como somos.
Quando o ser percebe que sua maneira de sentir é distinta, que seus valores destoam da pressa e da superficialidade do mundo, ele se recolhe não por fuga, mas por proteção da própria sensibilidade.
É nesse silêncio que o autoconhecimento floresce, e a alma aprende a encontrar em Deus o eco que faltou nos homens.
A existência nos ensina que toda alma traz experiências múltiplas, provenientes de outras existências, o que explica a diferença de maturidade espiritual entre os seres.
Muitas vezes, quem hoje é incompreendido caminha alguns passos à frente, porque já compreendeu o que os outros ainda temem enxergar.
Por isso, a solidão, para o Espírito evoluído, deixa de ser dor e se transforma em laboratório de luz interior.
Thomas Barnardo: O Homem que Não Trancava o Amor.
Thomas John Barnardo (Dublin, 4 de julho de 1845 — Surbiton, 19 de setembro de 1905) foi um filantropo irlandês.
Nas ruas frias de Whitechapel, onde a neblina parecia esconder a própria compaixão dos homens, caminhava um jovem médico com os olhos marejados de fé e um coração inquieto. Thomas John Barnardo não buscava glória nem fama. Buscava um sentido.
Chegara a Londres com o sonho de ser missionário na China queria curar corpos e salvar almas. Mas bastou-lhe uma noite nas vielas de miséria para entender que Deus o chamava de outro modo, em outro idioma, mais silencioso e urgente: o idioma das lágrimas infantis.
Foi ali, sob o fulgor pálido dos lampiões a gás, que encontrou Jim Jarvis um menino descalço, sujo de frio, esquecido do mundo.
Jim não lhe pediu nada. Apenas existia como uma pergunta muda à consciência de quem passava.
Barnardo ajoelhou-se diante dele e, num gesto que selaria o destino de milhares, ofereceu-lhe o que as ruas jamais dariam: uma mão estendida e um olhar que não desviava.
Daquele encontro nasceu uma obra de ternura revolucionária.
Ele abriu uma casa simples, com janelas pequenas e um letreiro singelo, mas onde nenhuma porta se trancava. A inscrição à entrada tornava-se lei moral:
“Aqui, nenhuma criança será recusada.”
Na Londres industrial, onde a caridade era privilégio e a pobreza, crime, Barnardo ousou contradizer o mundo. Alimentava quem tinha fome, ensinava quem ninguém queria educar, e amava os que o destino parecia ter esquecido.
Nas suas escolas, o alfabeto vinha acompanhado do pão; e cada palavra aprendida era uma escada erguida para o alto, um degrau rumo à dignidade.
Houve dias em que o desânimo o cercou. A indiferença das autoridades, o preconceito dos ricos, o peso da fome que não cessava — tudo o empurrava para o abatimento.
Mas Barnardo não se deteve. Dizia que “não há fechadura para o amor de Deus”, e caminhava outra vez pelas mesmas ruas, buscando novos rostos para acolher.
E, assim, foi multiplicando lares, como quem semeia abrigo no deserto.
Quando a morte o chamou, em 1905, mais de sessenta mil crianças haviam atravessado as portas que ele nunca trancou. Sessenta mil destinos que deixaram de ser sombras e voltaram a ser infância.
E quando a cidade dormiu naquela noite, talvez tenha sido o próprio céu que acendeu suas luzes para recebê-lo não como um missionário que partia, mas como um pai que voltava.
Hoje, a sua obra ainda vive, e o nome Barnardo ressoa nas escolas e abrigos do Reino Unido como um eco de misericórdia.
Mas a verdadeira herança que ele deixou não se mede em prédios, nem em números, nem em instituições.
Está gravada no invisível: no instante em que uma criança sente que alguém acredita nela.
" Alguns homens constroem monumentos de pedra. Outros, como Thomas Barnardo, edificam catedrais de ternura dentro da alma humana. "
Há quem diga que alguns seres se comprazem em cultivar a estima da pobreza, como se nela repousasse um símbolo de virtude ou redenção. Tais observações, lançadas com a frieza das conveniências humanas, soam muitas vezes como sentenças ditas sem alma e, quando atingem o ouvido de quem sente, doem profundamente.
A dor que nasce desse julgamento não é apenas pessoal: é o reflexo da incompreensão coletiva diante das almas que sofrem em silêncio. Enquanto uns observam de longe, outros carregam, nos ombros invisíveis, o peso de mundos interiores dores que não se exibem, mas que educam.
É então que se faz clara a urgência de criarmos núcleos de esclarecimento, não sobre a miséria material, mas sobre o amor ignorado. Esse amor que ainda não aprendeu a ver o outro sem medir-lhe o valor; que não sabe servir sem exigir aplausos; que ainda confunde compaixão com piedade.
Cultuar o amor ignorado é erguer templos de consciência onde antes havia indiferença. É ensinar o coração a compreender antes de julgar, a servir antes de censurar. É abrir, no deserto moral da humanidade, o oásis do entendimento.
Porque o verdadeiro amor aquele que transcende a forma e a posse não necessita de palmas, nem de discursos. Ele apenas é, e em sendo, ilumina.
E talvez seja essa a maior riqueza que possamos distribuir: a de transformar o sofrimento em escola, a crítica em semente, e o silêncio em voz do bem.
"Eu perdoo porque há dores maiores em mim."
Há feridas que não se veem, mas que brilham como estrelas dentro do peito. São dores antigas, silenciosas, que aprenderam a se calar para não assustar os outros. No entanto, é delas que nasce o perdão não como renúncia, mas como uma forma delicada de libertar o próprio coração.
Perdoar não é esquecer. É olhar para o outro e compreender que ele também se perdeu no caminho, talvez ferido pelas mesmas sombras que um dia nos alcançaram. Há uma nobreza secreta em quem sofre e, ainda assim, escolhe oferecer ternura.
Quando a alma amadurece, descobre que o rancor pesa mais que uma cruz. E é então que o perdão floresce, suave, quase tímido como uma flor que desabrocha no deserto. Ele não apaga a dor, mas a transforma em luz.
Eu perdoo porque compreendo. Porque sei que, se não o fizesse, seria a minha dor que me prenderia ao que já passou. E a vida é tão breve, tão urgente em sua beleza ou mesmo em sua aparente tristeza, que não merece ser gasta guardando espinhos.
Por isso, perdoo.
Não por grandeza, mas por necessidade de respirar. Porque dentro de mim, entre as cicatrizes, ainda há espaço para a pureza.
No Longe Que Eu Aprendi A Sentir A Realidade.
Longe é apenas o nome que damos ao que não sabemos como vicejar.
Não é o espaço que nos separa, mas o silêncio entre dois corações que ainda se chamam.
Quando o amor for verdadeiro, nenhuma estrada o dissolve ele continua a pulsar no intervalo das lembranças, entre o que fomos e o que deixamos de dizer.
A saudade é alguém gritando por nós através do tempo.
É o som da memória pedindo para ser escutada, o eco do que não morreu inteiramente.
Há vozes que não cessam, mesmo quando o mundo silencia.
Elas habitam o ar, os objetos, o perfume antigo que o vento traz sem querer.
Quem já amou profundamente sabe:
não há fronteira capaz de separar o espírito do sentimento, mesmo de nenhum sentimento...
O longe é um disfarce que enfeita o amor, mesmo calado, continua a escrever cartas invisíveis, para ser plenamente mais sincero...para não mais doer, para não mais ser compreendido porque esta algemado na mesma saudade de lágrimas da saudade.
E a saudade…
a saudade é o envelope que nunca se fecha.
Capítulo XVIII –
CARTA QUE O TEMPO RASGOU.
Livro: NÃO HÁ ARCO-IRIS NO MEU PORÃO.
Joseph bevouir - Escritor.
“Nem toda carta enviada busca destino. Algumas apenas desejam ser lidas pelas mãos do esquecimento.”
— Joseph Bevoiur, manuscrito recolhido ao lado de um relicto de piano sem teclas.
Camille Marie Monfort,
Perdoa-me por ainda escrever.
É que há sons que não cessam —
mesmo quando o mundo silencia.
E há nomes que continuam exalando perfume,
mesmo quando já se foram há muitas estações.
Esta noite, enquanto as janelas se recusavam a refletir o luar
e os espelhos evitavam meu rosto,
ouvi pela décima vez ou milésima aquela gaita de fole espectral.
Sim, Camille…
a mesma que ecoava nas colinas do meu delírio,
com sua melodia lancinante,
como se um fantasma pastor estivesse a ensaiar seu lamento
por um rebanho que jamais existiu.
Mas hoje, ouvi algo mais.
Ouvi o acompanhamento insólito
de um piano lírico porém, não qualquer piano.
Não, Camille…
Esse não tocava notas,
mas sons secos,
golpes vazios de teclas que não mais se movem.
E então perguntei, para o teto da noite,como um exorcista cansado:
_Quem executa essa gaita de fole tão covardemente ao amor
que, até é acompanhada por sons secos vindos das teclas de um piano lírico
quando esse nem por anacronismo poderia assim existir?
Não recebi resposta, como era de se esperar.
Talvez fosse tua sombra que ali dançava.
Ou talvez e essa é a hipótese que me fere seja apenas minha culpa tentando compor uma sinfonia
com os restos do que não vivi contigo.
Fica, então, esta carta não como súplica,não como epitáfio,mas como o último gesto de um homem que aprendeu a sofrer com elegância,à tua imagem e semelhança a ti, tão somente a ti mesma.
Não peço que me leias.
Peço apenas que, caso a brisa leve este papel aos teus pés etéreos,não o pises.
Pois cada palavra aqui escrita
ainda traz o peso do meu nome
e a leveza do teu.
- Joseph Bevoiur
(ainda ajoelhado entre ruínas, onde o amor se transforma em som que ninguém ouve.)
ATENDIMENTO FRATERNO NO CENTRO ESPÍRITA PARA ELE NÃO SE TRANSFORMAR NUM CONFESSIONÁRIO.
O Peso das Palavras: Quando Consolar se Transforma em Ferir.
Em tempos em que o sofrimento emocional se torna tema cada vez mais presente nas conversas cotidianas, cresce também a urgência de repensar como falamos com quem está fragilizado. Muitas vezes, na ânsia de confortar, acabamos ferindo não por maldade, mas por falta de preparo emocional.
Psicólogos têm alertado para um fenômeno comum: a tentativa de consolar com frases feitas, o que, em vez de aliviar, agrava o sofrimento. A expressão “Você tem que procurar ajuda”, por exemplo, parece prudente, mas soa como uma ordem e invalida o desabafo. Em um momento de vulnerabilidade, esse tipo de fala pode reforçar a sensação de impotência e solidão, justamente quando o indivíduo mais precisa se sentir compreendido.
Quando o “dizer algo” machuca.
De acordo com a psicóloga Rosa Sánchez, da Fundación Mario Losantos del Campo, essas respostas automáticas se repetem porque a sociedade as normalizou. Fomos treinados a preencher o silêncio, a dar respostas rápidas, como se o silêncio fosse sinônimo de descuido. Contudo, o impulso de “dizer algo” muitas vezes vem do desconforto de quem ouve, e não da necessidade de quem sofre.
O problema é que, ao tentar “arrumar” a dor do outro, transferimos para ele a responsabilidade emocional de melhorar. A frase pronta “Anime-se, a vida continua” soa como uma tentativa de encurtar o luto, de apressar a recuperação. Mas a dor não segue cronogramas, e quem sofre precisa de tempo, não de pressa.
O que não dizer.
Algumas expressões, embora pareçam inofensivas, diminuem a experiência do outro:
“Você já deveria ter superado.”
“Eu sei como você se sente.”
“Tudo acontece por um motivo.”
“Poderia ser pior.”
“Você tem que ser forte.”
“Não chore.”
“Anime-se, a vida continua.”
Cada uma delas nega a singularidade da dor. Ao comparar, racionalizar ou impor força, anulamos a liberdade emocional da pessoa. O resultado é o oposto da empatia: culpa, solidão e incompreensão.
Por que caímos nesses erros?
Três fatores se destacam:
1. Falta de educação emocional. Muitos de nós não aprendemos a lidar com emoções profundas, nem as próprias, nem as alheias.
2. Medo do silêncio.
O silêncio é visto como constrangimento, quando, na verdade, ele pode ser o espaço mais terapêutico.
3. Desconforto diante da dor.
A tristeza e a vulnerabilidade lembram a todos a própria fragilidade, e isso gera fuga disfarçada em palavras de consolo.
Ao tentar “melhorar” o outro, fugimos da própria impotência e esquecemos que empatia não é consertar, é estar junto.
O que realmente ajuda.
A verdadeira presença não exige discursos, mas escuta, atenção e disponibilidade. Frases simples, quando ditas com sinceridade, têm o poder de acolher:
“Estou aqui para você.”
“Sinto muito que você esteja passando por isso.”
“Você quer conversar ou prefere se distrair um pouco?”
“Não sei o que dizer, mas estou com você.”
“Obrigada por confiar em mim.”
Essas expressões validam o sentimento e oferecem segurança emocional. Elas não tentam resolver, apenas confirmam: “você não está sozinho”.
Orientações práticas de acolhimento.
Ouça sem interromper. Às vezes, o desabafo é mais curativo do que qualquer resposta.
Evite julgamentos e conselhos não solicitados. O ouvinte não precisa ser terapeuta; precisa ser humano.
Reconheça a emoção: “Entendo que isso deve ser difícil.”
Ofereça companhia, não soluções. Estar junto é mais eficaz do que tentar corrigir.
Cuide do tom de voz e da expressão corporal. A empatia também se comunica pelo olhar e pelo gesto.
Respeite o silêncio. Há momentos em que falar menos é amar mais.
Busque informação sobre saúde mental. Saber o básico evita erros que perpetuam o sofrimento.
Consolar é sustentar, não corrigir.
Consolar alguém não é encontrar a frase perfeita, mas sustentar o tempo e o ritmo do outro. É permitir que o sofrimento se expresse, sem apressar a cura. Empatia é permanecer quando o outro não tem mais força; é segurar o silêncio sem precisar preenchê-lo.
Porque, no fundo, as palavras que curam são as que nascem do respeito e não da pressa de fazer o outro se sentir melhor.
“A escuta é o primeiro gesto do amor.
Acolher não é dizer algo certo, é estar presente no tempo certo.”
Texto do: Escritor:Marcelo Caetano Monteiro .
De acordo com a psicóloga Rosa Sánchez, da Fundación Mario Losantos del Campo.
O PORÃO ONDE FLORESCEM AS SOMBRAS.
O porão de Camille Monfort não tinha janelas. Era feito de lembranças úmidas e de passos que o tempo abafara. Lá, as sombras não apenas se escondiam — elas germinavam. Cada móvel esquecido parecia guardar a respiração de um sonho que nunca se realizou.
Camille não temia o escuro; temia o que o escuro dizia. Havia aprendido cedo que a dor, quando não encontra ouvido, cava abrigo nas profundezas da alma. E o seu porão era esse abrigo: um lugar onde as dores antigas faziam morada, conversando entre si como velhas conhecidas.
Dizia-se que ela tinha o dom de ouvir o que o silêncio confessa. Talvez fosse apenas sensibilidade demais, ou talvez, como acreditavam os que a conheciam de perto, Camille visse o que os outros apenas pressentiam — as linhas tênues que ligam a dor ao destino.
Certa vez, ao descer com uma lamparina trêmula, viu que algo nas sombras respirava. Não era medo, era reconhecimento. As sombras sabiam seu nome. Ali, no fundo mais fundo, Camille compreendeu que cada lembrança ferida é uma semente: floresce, sim, mas sob a terra escura.
E o porão, esse lugar de exílios interiores, tornou-se também o seu jardim. Um jardim de sombras floridas onde o sofrimento, ao ser aceito, se transfigura em perfume.
Camille Monfort entendeu que não se foge das sombras: conversa-se com elas. E, quando enfim o fez, ouviu de dentro de si mesma uma voz que dizia:
“A luz não nasce do alto, Camille. Ela brota de onde o escuro cansou de ser silêncio.”
O porão onde Camille Monfort habitava suas lembranças não ficava sob a casa ficava sob ela mesma. Era o subterrâneo da alma, o espaço onde os passos ecoam mesmo quando o corpo já não se move.
Ali, as sombras não eram ausência de luz, mas presenças antigas, sobreviventes do que fora esquecido. Tinham cheiro de infância úmida, de solidão e de papéis que nunca foram escritos. Cada objeto abandonado contava um trecho de sua história: a boneca sem olhos, o retrato sem moldura, o espelho que refletia apenas o que a alma ousava encarar.
Camille descia sempre que o silêncio se tornava insuportável. Levava nas mãos uma vela, como se conduzisse a si mesma a uma cerimônia de reconciliação. Ao descer, sabia que cada degrau era também uma descida interior e que as sombras esperavam não para assustar, mas para serem vistas.
Um dia, ao tocar o chão frio, sentiu que algo se movia entre as paredes. Era o murmúrio das memórias que ainda pediam voz. Então ela compreendeu: nada que é reprimido morre apenas muda de morada. E, naquele instante, o porão deixou de ser cárcere para tornar-se útero.
Camille descobriu, enfim, que as sombras florescem quando são compreendidas. Que o perdão é a luz que germina sob o peso da terra. Que a alma, quando aceita o próprio abismo, encontra a passagem secreta para a paz.
E foi assim que ela, a mulher das sombras, subiu novamente as escadas sem lamparina, sem medo trazendo nos olhos um brilho novo. A luz que antes buscava fora, agora nascia nela.
“O porão não era o fim, era o começo. Toda flor primeiro é sombra.”
- Relacionados
- Frases de Amor Não Correspondido
- Frases de desprezo para quem não merece mais a sua atenção
- Amor não correspondido
- Frases de raiva que dizem o que você não consegue falar
- Não Vivo Sem Você
- Textos para uma pessoa especial se sentir muito amada e valorizada
- Frases para alguém que não gosta de mim