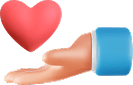Poemas de Crianca de Charles Peguy
O raso tem essa crueldade: parece fácil, parece seguro, parece até bonito quando o sol acerta o ângulo. Mas não acolhe. Não sustenta mergulho. Quem vive de superfície se acostuma a respirar ofegante, como quem teme o próprio fôlego.
O tempo — esse animal indomável — merece ser gasto em abismos que valham o risco. Em encontros que te façam perder o chão, mas te devolvam o sentido. Em silêncios que não te afoguem, mas te ensinem a ouvir.
Não desperdice seus minutos em quem tem medo da correnteza.
Não negocie sua profundidade com quem só sabe molhar os pés.
Porque, no fim, a vida não é sobre colecionar respirações, é sobre o raro instante em que falta o ar e, ainda assim, você sente que valeu a pena.
Caminhar lado a lado exige um gesto raro: deixar as ideias descansarem um pouco. As ideias são bonitas, mas traiçoeiras. Nelas, todos somos perfeitos. O filho ideal só existe no pensamento. A mãe ideal também. No mundo das ideias, ninguém falha, ninguém se desespera, ninguém diz a palavra errada na hora errada. É um lugar confortável demais para caber gente viva.
Viver de verdade com alguém é aceitar que o real é meio torto. Que há dias em que a voz falha, a alma murcha, o cansaço transborda. É ter coragem de amar o que existe, não o que imaginamos. E isso é mais difícil do que parece, porque a imaginação é uma costureira habilidosa: ajusta, corta, embeleza. O real, não. O real é áspero, às vezes. Mas é nele que moram os encontros que mudam a vida.
Cada um é o que é. Faz o que dá conta. Ama como aprendeu. E isso não é desculpa: é condição humana. Amar sem tentar caber no molde do outro é um ato de generosidade. Um jeito bonito de dizer: eu te vejo, não pelo que projetei, mas pelo que você realmente é — com suas frestas, suas travessias, suas partes desordenadas.
O amor verdadeiro não exige perfeição. Exige presença. Exige humildade para desfazer fantasias antigas e coragem para ficar, mesmo quando o castelo que imaginamos vira chão. Prosseguir amando, mesmo quando a realidade desmonta o sonho, é um gesto de maturidade que poucos sustentam.
São poucos os amores que suportam a pureza do real. A maioria prefere a maquete. Eu, não. Prefiro a casa habitada, mesmo com as rachaduras. O afeto que existe, mesmo com as falhas. O caminho compartilhado onde dois humanos, imperfeitos e inteiros, aprendem a caminhar juntos — não pela ideia do que deveriam ser, mas pela beleza do que são.
Não vou mais lutar comigo mesmo. Essa guerra íntima sempre foi injusta: eu de um lado, tentando caber; o mundo do outro, oferecendo moldes apertados demais. Passei tempo suficiente tentando negociar minha existência, arredondar arestas, suavizar excessos, traduzir quem sou para ver se assim eu era aceito. Não funcionou. Nunca funcionou.
Nunca coube nas expectativas porque elas nascem pequenas demais para o que pulsa em mim. Nunca me ajustei para pertencer porque pertença, quando exige mutilação, vira cárcere elegante. Aprendi isso do jeito mais cansativo: insistindo. E só agora entendo que insistir contra si é uma forma sofisticada de abandono.
Sou o que sou. Não por rebeldia, nem como defesa. Sou o que sou como quem finalmente pousa as armas no chão e senta. Há uma paz estranha nisso. Não a paz da acomodação, mas a paz de quem para de se ferir tentando ser outra coisa. Sustentar-se dá trabalho, mas lutar contra si cobra um preço alto demais.
Escolho, então, essa trégua radical comigo. Não para me tornar imutável, mas para mudar sem me violentar. Não para agradar, mas para existir com decência. Sou o que sou — e isso, hoje, não é sentença. É abrigo.
Quanto custa ser o que se é? Pergunta besta, mas incômoda. Quem já se olhou no espelho com a suspeita de que o reflexo sabe algo que você insiste em negar sabe: a resposta dói antes de chegar.
A culpa se aloja em cada gesto ousado, em cada palavra engolida, nos silêncios que preferimos. Ela é pegajosa, insistente, um lodo que adere à pele e ao pensamento. A liberdade, por outro lado, chega quase sussurrando e exige preço: ser inteiro, visível, irreversível.
Ser quem se é significa viver com a língua raspando as feridas da própria alma. Admitir que cada escolha, mesmo mínima, é uma cratera na qual a culpa pode se esconder — e que ainda assim, é ali que respiramos.
A culpa se veste de memória; a liberdade, de coragem. Oscilamos entre elas. Algumas vezes, a culpa nos segura pelo tornozelo; outras, a liberdade nos carrega pelo peito, nos atirando contra o céu.
Ser quem somos não é leve. Não é fácil. Não é barato. Mas o preço, cada suspiro, cada nó na garganta — vale mais que fingimento, mais que qualquer paz comprada com silêncio ou complacência.
No fim, o duelo nunca termina.
Mas existe algo de radicalmente bonito em atravessar essa colisão entre culpa e liberdade: sentir cada choque, cada fissura, cada centelha — e ainda assim continuar inteiro, pulsando, crua e irreversivelmente vivo.
Há um ruído antigo em mim — não sei se nasce do peito ou das paredes internas. Um som que pergunta, sem mover a boca, se minha presença é respiro ou incômodo. Não pergunto aos outros; pergunto ao silêncio. E ele sempre responde: depende.
Depende de quê?
Talvez da sombra que ainda carrego — essa que aprendeu a duvidar do que é oferecido com ternura, como se o afeto tivesse validade curta.
E não é por falta de amor; não faltou.
É que, em algum ponto sensível da minha história, aprendi que tudo pode virar silêncio sem aviso. Cresci assim: não desconfiado das pessoas, mas das marés. Meio alerta, meio cético, inteiro faminto do que é seguro.
Há em mim um eco que hesita diante do amor mais evidente — não por falta de provas, mas por excesso de memória. Uma parte minha vigia a porta mesmo quando não há perigo.
E o curioso é que eu sei que sou querido.
Mas há uma porção antiga — leal às dores que sobreviveram — que pergunta: “e se for só gentileza?”
Às vezes imagino que essa dúvida é um animal. Mora em mim. Cheira o amor antes de deixá-lo entrar. Rosna quando alguém chega perto demais — não por recusa, mas por medo de desmanchar.
E a cura?
Talvez seja deixar esse animal cansar.
Permitir que o amor chegue devagar, até o corpo entender que não é ameaça: é colo.
Ou aceitar que essa dúvida é profundidade — alguns de nós amam em camadas, e o afeto precisa atravessar labirintos para chegar ao centro.
E no meu centro existe um lugar que sempre soube que sou amado.
Mas às vezes ele cochila — e o mundo fica estrangeiro.
Basta um olhar verdadeiro para tudo despertar.
E eu lembro, mesmo que por instantes:
não estou sendo tolerado, há morada nos amores que me abraçam.
(“O lugar onde o amor cochila”)
Há coisas que faço com grandeza quase ofensiva — levantar ruínas, atravessar vendavais, carregar mundos nas costas. E, no mesmo corpo, existe o sujeito que trava diante do pequeno: lavar a louça, lavar o corpo, lavar a alma — e nada ficar realmente lavado. A pia continua cheia, a pele continua cansada, e a alma… essa sempre deixa um canto por esfregar.
De vez em quando, meus monstros me chamam para a caverna. Eles têm boa dicção, argumentos sedutores, promessa de silêncio. Os pseudo-anjos, esses, são piores: falam em luz, mas deixam tudo enevoado; abrem a boca e não esclarecem nada — só criam sombras com asas brilhantes. Vivo assim: entre o que me salva e o que me consome, entre o que me ilumina e o que me incendeia. Um clarão que, às vezes, vira labareda.
Dentro de mim, a vida e a morte conversam. A morte que pede fôlego, a vida que implora descanso. As dores anunciam sua chegada sem som — e quando finalmente tento dizer, ninguém entende a língua em que sangro. Falo em metáforas, gaguejo verdades, engulo gritos. E sigo juntando frases soltas: as tuas, as minhas, as que se quebram antes de virar sentido. Somos dois que viram quatro, e cada um deles puxa um fio do mesmo corpo.
Muita gente em mim. Tão pouca gente pra mim. Por mim?
Minha voz anda rouca de tanto gritar por dentro. E, no entanto, aqui estou: 30 gotas de Rivotril, uma trégua temporária, mais uma noite sem enlouquecer. Amanhã acordo de novo, inteiro o suficiente para existir, firme o suficiente para não pedir licença, atento o bastante para não pisar nos ovos dos pintinhos que nunca rompem a casca.
Porque, apesar de tudo, ainda escolho viver. Mesmo quando viver parece demais para um dia só.
Ser porto seguro é uma honra silenciosa que pesa nos ombros. Cada abraço que dou, cada conselho que escuto e devolvo, carrega uma pequena parte de mim que ninguém vê. Há dias em que ser referência é como sustentar o céu sozinho: bonito, mas extenuante.
O paradoxo é cruel e belo: a confiança alheia me eleva, me dá sentido, e ao mesmo tempo me lembra do risco de ceder demais, de me perder no cuidado que ofereço. Às vezes, me sinto encurralado no canto, cercado por expectativas, olhando para fora e desejando espaço para simplesmente existir.
Há uma delícia discreta em saber que alguém respira mais leve porque eu estive ali, firme, disponível. Mas a dor mora nas entrelinhas — nas madrugadas em que olho para minhas mãos e percebo que também elas precisam de abrigo.
Ser porto seguro é ser farol e tempestade. É carregar um oceano de vidas dentro de si, com a certeza de que cada gota que dou de mim é ao mesmo tempo um presente e um peso. Ainda assim, continuamos a brilhar, porque, no fundo, ser referência é a mais humana das responsabilidades: sentir o peso do mundo, e mesmo assim, oferecer um pouco de céu.
O difícil nunca foi me reconhecer, foi sustentar. Autenticidade cobra caro. Ela retira aplausos fáceis, desmonta personagens bem avaliados, afasta quem só se aproximava enquanto eu me moldava.
Ser eu exigiu cortes precisos. Abandonei negociações afetivas, rasguei expectativas alheias, aceitei que nem todo vínculo sobrevive quando a gente para de pedir permissão para existir.
Hoje sou mais direto, menos explicável. Não tento convencer, sustento. E isso, curiosamente, é o gesto mais delicado e mais ácido que já aprendi.
Porque nada desconcerta mais o mundo do que alguém que decidiu ficar inteiro.
Mergulhar é decidir afundar acreditando que o corpo ainda lembra como voltar. Há um segundo em que o ar falta, o peito arde, a cabeça avisa que talvez seja demais. E mesmo assim, fica-se mais um instante. Não por coragem, mas por curiosidade. Depois, o impulso antigo reaparece, o corpo sobe, o ar entra desajeitado, e respirar volta a ser um milagre banal. Toda transformação começa assim: um quase-afogamento seguido de reaprendizado.
Tenho vivido o estado estranho de não ser mais quem fui. Um auto-estranheirismo. Há dias em que me entristece não dar conta do que antes era fácil. Coisas que fazia sem pensar agora exigem pausa, cuidado, negociação interna. É como acordar numa casa que sempre foi sua e precisar de segundos para lembrar onde fica a cozinha. Isso dói, porque a memória do que fui ainda mora em mim.
Mas há também prazer: descobrir habilidades que não existiam, aprender com o espanto de quem começa do zero. Errar sem arrogância. Esse estranhamento não é ruptura, é transição. Caminho por ele com angústia e curiosidade. Nem sempre sei quem sou hoje, mas começo a desconfiar de quem posso me tornar.
Talvez amadurecer seja suportar a tristeza do que não somos mais sem apressar a alegria do que ainda não sabemos. Permanecer nesse intervalo instável, onde o desconforto ensina e a surpresa salva. Aceitar que não reconhecer a si mesmo também pode ser sinal de que a vida está funcionando.
Seja cientista de si.
Ser cientista de si é abrir gavetas onde ninguém jamais olhou, é encontrar restos de ecos antigos e etiquetá-los com rigor e reverência. Cada memória se torna um organismo estranho, cada emoção, um vírus que infecta sem aviso. Não se trata de curar, mas de observar: estudar as mutações do próprio desejo, as derivações do medo, as metamorfoses do amor que insiste em nascer nos lugares errados.
O corpo é um microscópio que às vezes faz truques com a mente — é um campo de ensaio onde hipóteses explosivas dançam e se desintegram em segundos. Ser cientista de si é aceitar que não há controle, apenas registro. Registrar a instabilidade, o colapso, a beleza que surge do caos interno. É perceber que algumas experiências não se replicam, algumas falhas são únicas, algumas feridas ensinam mais que qualquer vitória.
E no centro desse laboratório, no silêncio que não cabe em palavras, surge a maior descoberta: que o sujeito estudado é também quem observa, e que cada experiência de si é um prisma que reflete infinitos mundos. Ser cientista de si é um gesto de coragem quase selvagem — olhar para dentro e perceber que o experimento nunca termina, e que cada segundo é irrepetível, insubstituível, imprescindível.
Há um alívio secreto em se jogar sabendo que existe chão. Não falo de certezas — certezas são para quem teme a vida. Falo do chão que nasce dos próprios pés, esse solo íntimo que a gente aprende a cultivar depois de tantas quedas que já nem sabemos mais qual doeu primeiro.
É libertador sentar no meio-fio sem medo de parecer deselegante. Elegância, no fim, nunca esteve na pose, mas na coerência interna. Prefiro o cimento quente da rua me lembrando que continuo vivo do que qualquer palco que exija um personagem. Às vezes é no meio-fio que o coração finalmente se endireita.
Vestir-se de si exige propriedade afetiva. É colocar no corpo — e na vida — as camadas exatas do que se é, mesmo quando isso desagrada expectativas alheias. Sustentar as próprias escolhas é um tipo de musculatura moral: dói no começo, treme no meio, mas mantém a coluna da alma ereta.
E nas crises, é preciso gentileza. Respeitar-se como quem protege algo precioso. Gritar pra dentro, chorar pra fora, respirar onde der. Permitir-se ser humano sem desmerecer a força que existe no próprio caos.
Nas dores, ser colo. Nas alegrias, ser testemunha. Em ambas, gostar de si como quem aprende, depois de tantas tentativas, que o amor-próprio não é um estouro, mas um sussurro persistente que nos chama pelo nome quando o mundo tenta nos esquecer.
A verdade é simples e devastadora: a vida não fica mais leve, é a gente que fica mais inteiro. E quando finalmente sabemos que há sempre um chão — mesmo que seja o das escolhas que sustentamos com o peito aberto — o salto deixa de ser risco e vira rito.
Rito de fé.
Rito de coragem.
Rito de ser exatamente quem se é.
Há dias em que algo dentro da gente desperta como quem encosta a mão numa ferida antiga e, pela primeira vez, não recua. Vem uma lucidez quieta, dessas que não fazem barulho, mas deslocam tudo por dentro. Uma compreensão branda de que a vida é feita de tentativas — algumas inteiras, outras tortas — e que não há vergonha alguma nesse descompasso.
Fiquei pensando no quanto a gente insiste em sustentar a pose de quem acerta sempre, quando, na verdade, o amor se constrói é na hesitação. No passo em falso. No gesto que sai pela metade, mas ainda assim diz tudo. Amar é caminhar sabendo que o chão cede, que o corpo treme, que o coração desobedece. E, mesmo assim, continuar.
Há algo de profundamente humano em admitir que não damos conta de tudo. Que tropeçamos nos próprios medos, que às vezes derrubamos o que queríamos proteger. Essa honestidade silenciosa — a de reconhecer nossas bordas — abre um espaço onde o outro pode respirar sem performance, sem armadura, sem exigência de perfeição.
No fundo, acho que a beleza está nesse acordo invisível entre dois inacabados: a permissão de ser falho sem ser abandonado. A coragem de mostrar a rachadura e confiar que ela não será usada como arma. O abrigo construído não pelo acerto, mas pela delicadeza de tentar de novo — e de novo — mesmo sabendo que não existe garantia alguma.
E talvez seja isso que mais me atravessa: a percepção de que falhar não nos faz menores. Às vezes, é justamente o que nos torna verdadeiros. Porque só quem aceita o próprio desalinho consegue amar com profundidade — e permanecer, apesar das quedas, com uma força que não se aprende, apenas se vive.
Quando cientes
de nossa missão nesse mundo, deixamos de ser
um símbolode resistência
e nos tornamosum
modelo desuperação!
Quando os 'deuses da razão'
tramam nos punir,
eles atendem nossas preces!
Não com aquilo que desejamos,
mas com aquilo que
precisamos!
O objetivo da vida
não é ser feliz; é ser útil!
Na verdade, é essa percepção de utilidade que nos permite
ser permanentemente
felizes!
Ter consciência do divino,
não significa dobrar joelhos a qualquer
personagem ou doutrina...
Mas continuamente revestir-se
de consistentes saberes - dos graciosos
hálitos da prudência - que
nos mantenham de pé
e caminhando!
... a suprema
missão do espírito é despertar
e potencializar conteúdos
e atitudes que, sobretudo,
o testemunhem digno
de espírito!
... imprudente
solidão é a que nos afasta
de nós mesmos...
De tudo que já somos; tudo que
lutando já conquistamos; e,
não poucas vezes, nos
esquecemos!
Quem
tolere o mal
como se toda finalidade
justificasse os meios empregados;
contribui no alastramento
de sua aura doentia,
devastadora!
É parte da cura
o firme desejo de ser curado,
diz o honrado Sêneca!
Logo, não há porque nos
afeiçoarmos a certos hábitos
e deformidades
que apartados de mínima
sensatez, tão só nos
adoecem!