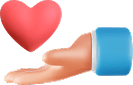Nao Abra seu Coracao
O que torna o mundo tão medonho não são feridos gemendo, mas a invalidação pelos que ainda não precisam gemer.
Não há jeito mais medonho de perder Tempo do que passar Tempo longe do Dono do Tempo.
Há os que erroneamente acreditam que o Tempo só se perde nas distrações, nos atrasos, nos desvios da vida…
Mas, na verdade, não há forma mais sombria de desperdiçá-lo do que tentar vivê-lo longe Daquele que o sustenta.
Distante Daquele que até dele é Senhor.
Tempo sem sentido é aquele que tentamos carregar sozinhos — como quem tenta segurar água nas mãos.
Esse é o Tempo que inevitavelmente escorre, some e evapora.
Estar longe do Dono do Tempo é caminhar com pressa, mas sem destino; é preencher os dias, mas não a alma; é envelhecer por fora sem amadurecer por dentro.
Quando nos afastamos da Fonte, até os minutos pesam.
Mas quando nos reaproximamos, até o silêncio floresce.
O Tempo ganha outra textura quando lembramos que não somos seu dono, apenas passageiros.
E que sentido maior existe do que entregar essa travessia a quem conhece todos os portos?
No fim, o maior desperdício não é o Tempo perdido — é a vida não vivida na presença de quem a criou.
É ali, e apenas ali, que os dias se encaixam, que as horas respiram e que o Tempo, enfim, encontra propósito.
Tempo bom é aquele vivido nos braços de seu Dono!
Não me preocupo com os que acreditam em Papai Noel, mas com os que alugam as cabeças e ainda acreditam que pensam com elas.
No fundo, a inocência dos que acreditam em Papai Noel ainda lhes conserva alguma forma de beleza.
O que realmente inquieta é perceber quantos, já adultos, seguem alugando as próprias cabeças — entregando seus pensamentos a quem grita mais alto, a quem promete atalhos, a quem dispensa qualquer reflexão.
Assusta menos a fantasia do bom velhinho do que a fantasia medonha de autonomia que muitos carregam.
E carregam-na com tanta convicção que quase sempre ela é bordada nos berros.
Pensam que pensam, mas apenas repetem ecos, devolvem opiniões prontas, vestem certezas emprestadas.
E, assim, vão cedendo o território mais sagrado que existe: o da consciência.
Talvez o verdadeiro e mais urgente milagre não seja acreditar em Papai Noel, mas resgatar o direito — e o trabalho diário — de pensar com a própria cabeça.
De duvidar, questionar, investigar…
De não permitir que ideias venham com contrato de aluguel, mas que sejam construídas com autenticidade, esforço e liberdade.
Porque, no fim, a maior ilusão não é a de um presente — embalado na inocência — na noite de Natal, mas a de viver sem perceber que a mente foi entregue ao comodismo, à manipulação ou ao medo.
E nada é mais urgente e necessário do que retomá-la.
Sob custódia da pá de cal, não há brechas para a famigerada “passação de pano”.
Porque a terra que sela o que foi feito — ou deixado de fazer — não negocia versões, não dilui culpas, não aceita desculpas tardias.
A pá de cal não apenas encerra histórias: ela revela, em seu silêncio deveras pesado, que todo ato tem peso próprio, e que nem todo peso cabe sob o manto da conveniência.
Ali, onde o último punhado cobre o inegável, percebe-se que o mundo só tolera o acobertamento enquanto ainda acredita ser possível reescrever o enredo.
Mas diante do irrevogável, a verdade emerge como eco: não há como lustrar o que apodreceu, nem como dourar o que se fez cinza.
É a justiça granítica da terra — simples, definitiva, incorruptível — lembrando que alguns erros não cobram explicação: cobram responsabilidade.
E que, quando o fim é posto, só resta aprender a não enterrá-lo outra vez dentro de nós.
Chega!?
Chega, já te perdoei as setenta vezes sete, vá e não peques mais…
Até o perdão tem um limite secreto onde a dignidade aprende a falar mais alto.
Já te perdoei as setenta vezes sete, e em cada uma delas deixei que o coração respirasse a esperança de que tu soubesses finalmente o peso do que fazias.
Mas o perdão, por maior que seja, não é convite para a repetição da mesma queda.
É aviso, cura, é último chamado.
Por isso, vá…
não como quem foge, mas como quem enfim entende que não se pode ferir o mesmo lugar para sempre e esperar que ele permaneça vivo.
E não pequeis mais — não porque o erro seja proibido,
mas, porque há um momento em que machucar alguém que te ofereceu todas as chances deixa de ser falha humana e passa a ser escolha deliberada.
Vai, então.
Leve contigo toda a soma de perdão, mas não esperes que ele continue sendo casa.
Algumas trilhas só viram caminhos quando alguém — finalmente — aprende a caminhar sozinho.
Vá em Paz e não peques mais!
E se você não estiver nesse futuro pelo qual tanto se cobra e, em nome dele, se impede de viver o agora?
Talvez o amanhã tenha se tornado um credor impiedoso, cobrando juros altos demais sobre uma vida que só pode ser paga no presente.
Promete-se sentido depois, descanso depois, felicidade depois — e, enquanto isso, o hoje vai sendo adiado, silenciado, desperdiçado…
Vivemos como se a existência fosse um rascunho, um ensaio para um tempo que talvez nunca chegue.
Ora, negligenciamos tanto o percurso que alcançamos nossos objetivos, mas perdemos a empolgação por fragilizar-nos demais.
E quase sempre guardamos abraços, adiamos risos, engavetamos sonhos, tudo para honrar um futuro que não garante presença nem permanência.
Mas se — ao final — descobrirmos que ele nunca nos incluiu nos seus planos?
O agora não é um obstáculo a ser superado, mas o único território onde a vida de fato acontece.
Negá-lo é trocar o certo pelo hipotético, o palpável pela promessa.
Não se trata de abandonar o amanhã, de deixar de sonhar, mas de lembrar que nenhum futuro vale o preço de um presente não vivido.
Talvez a verdadeira imprudência não seja viver intensamente o hoje, mas hipotecar a própria vida em nome de um amanhã que pode jamais nos chamar pelo nome.
O melhor dia para viver é hoje, às vezes o amanhã tem a estranha mania de ser tarde demais.
Não há sussurro mais bonito e charmoso que o da Sabedoria entre os berros dos Cheios de Certezas tentando silenciar os Cheios de Dúvidas.
Há um encanto muito raro no sussurro da sabedoria, porque ele não disputa palco nem precisa levantar a voz.
Enquanto os Cheios de Certezas berram para abafar as perguntas — como se o volume pudesse substituir a verdade —, a Sabedoria prefere caminhar entre as Dúvidas, reconhecendo nelas o início de todo entendimento.
Os gritos tentam impor, o sussurro convidar.
Os que se dizem completos temem os silêncios, pois neles moram as perguntas que desmontam suas convicções frágeis.
Já os cheios de dúvidas, mesmo inseguros, carregam a coragem de escutar, de rever, de aprender e até a humildade de se questionar.
É a eles que a sabedoria se dirige, não para oferecer respostas prontas, mas para ensinar o valor de perguntar melhor.
No fim, o barulho cansa e se esgota.
O sussurro permanece.
Porque só quem não precisa gritar, sabe que a verdade não se impõe — se revela, livre e leve, sobre as sandálias da delicadeza, a quem aceita não saber tudo.
Pai, se não puderes passar de mim esse cálice, poupe-me ao menos dos amantes da espetacularização.
Não temo os tropeços, as tempestades ou a morte — nem minha, nem dos meus — pois nenhum destes barulhos consegue ser mais ensurdecedor que o espetáculo feito deles.
Há cálices que não doem pelo amargor do conteúdo, mas pelo coro que se forma ao redor deles.
O tropeço ensina, a tempestade depura, a morte silencia — todas cumprem um papel sagrado no trato da alma.
O que fere é o aplauso, o holofote aceso sobre a dor alheia, a pressa em transformar cruz em palco e lágrima em argumento.
Quem caminha com fé não pede a ausência da noite, mas a dignidade do escuro.
Não implora pela fuga da provação, mas pelo recolhimento necessário para atravessá-la.
Há dores que só frutificam no segredo, há processos que se perdem quando exibidos.
O espetáculo rouba o sentido; o silêncio, ao contrário, devolve profundidade.
Por isso, minha súplica parece-me justa: se o cálice não puder ser afastado, que ao menos não venha acompanhado da plateia.
Que a dor seja escola, não vitrine.
E que o barulho venha do céu, não dos que confundem compaixão com curiosidade e fé com entretenimento.
Amém!
Talvez, se não nos esforçássemos tanto para chatear uns aos outros, não precisaríamos nos desprender da terra para conhecer o paraíso.
Provavelmente ele não esteja tão distante quanto aprendemos a imaginar, nem tão alto que exija asas, nem tão longe que nos peça despedidas.
Mas talvez ele se afaste toda vez que insistimos em ferir, provocar, disputar razão como quem disputa território…
Há um esforço tão medonho quanto curioso — quase disciplinado — em chatear o outro: palavras afiadas, silêncios estratégicos, julgamentos apressados.
E, enquanto gastamos energia cavando abismos, seguimos acreditando que o paraíso só se revela depois da ruptura final com a terra.
Mas se o paraíso fosse menos fuga e mais convivência?
E se fosse menos promessa futura e mais gesto presente?
Menos céu distante e mais chão respeitado?
Talvez o que nos expulse diariamente do paraíso não seja a terra, mas a incapacidade de habitar o outro com delicadeza.
E talvez, se desaprendêssemos a ferir, descobríssemos que o paraíso sempre coube aqui — entre um olhar que acolhe, uma mão que se estende, uma palavra que poupa e um silêncio que não machuca.
Não é fácil entender como um mundo tão abarrotado de santos consegue fabricar tantos problemas.
Talvez porque santos demais, quando empilhados, deixam de ser testemunho e passam a ser ornamentos e julgamentos
Um mundo abarrotado de “santos” costuma falar mais alto sobre virtude do que praticá-la.
Há muita canonização apressada do próprio ego e pouca disposição para carregar até a própria cruz, quiçá a do outro.
Quando a santidade vira rótulo, ela já não transforma — apenas separa, acusa e justifica.
Os problemas não nascem da falta de discursos corretos, mas da hipocrisia, da ausência de mãos estendidas, de escuta sincera e de misericórdia silenciosa.
Afinal, se todos fossem realmente santos como acreditam, talvez o mundo fosse menos barulhento… e muito mais habitável.
Assusta-me muito menos o pecador assumido do que o santo fabricado.
São nos momentos em que não conseguimos revidar nem carinhos, que mais precisamos deles.
É justamente aí que eles revelam sua natureza mais alta.
Quando não conseguimos revidar — nem gestos, nem palavras, nem presença —, o carinho deixa de ser troca e se torna sustento.
Não vem como troca nem pagamento, mas como abrigo.
Não exige força, apenas permite existir.
Há dias em que a alma está tão cansada que até o afeto pesa nas mãos.
E, ainda assim, é nesses dias que ele se faz mais necessário: não para ser devolvido, mas para nos lembrar que continuamos dignos, mesmo esvaziados de nós mesmos.
O carinho verdadeiro não se ofende com o silêncio, não cobra performance, não exige reciprocidade imediata.
Ele sabe esperar…
Espera o outro se reinventar, se restaurar.
Sabe cuidar enquanto a gente reaprende a sentir.
Cá por essas bandas de um sol para cada um, que cada qual tenha a hombridade de não se descuidar do seu.
Nem superaquecer o outro.
Bom e abençoado dia de verão embalado nos 40.
Cá por essas bandas, onde há um sol para cada um, não nos falta luz — falta, às vezes, hombridade.
Hombridade para cuidar do próprio astro, regular o próprio calor e vigiar as próprias sombras.
Porque há quem, descuidado de si, tente aquecer a própria falta queimando o outro.
O verão ensina sem levantar a voz: o sol que amadurece também pode ferir.
Tudo depende da distância, do respeito, do tempo de exposição.
Há calores que nutrem e há calores que adoecem.
Que cada qual carregue o seu sol com responsabilidade,
sem invejar o brilho alheio,
sem projetar suas secas sobre jardins que não lhe pertencem.
Num dia abençoado, embalado nos quarenta,
que saibamos ser verão sem incêndio,
luz sem arrogância,
calor sem invasão.
Bom e abençoado dia, ainda que embalado nos 40.
O que ameaça o status quo dos opressores não é a força bruta, mas sim a emancipação intelectual e a agência política dos oprimidos.
Os opressores muito raramente temem punhos cerrados; o que verdadeiramente os inquieta são mentes despertas.
A força bruta é previsível e quase sempre pode ser reprimida, rotulada e até esmagada.
Já a emancipação intelectual não se deixa algemar com facilidade: ela questiona, desmonta narrativas, expõe privilégios travestidos de ordem natural.
Quando os oprimidos passam a compreender as engrenagens que os nivelam por baixo, o status quo começa a ruir por dentro.
A consciência crítica retira do opressor o monopólio da verdade e devolve ao oprimido algo que sempre lhe foi negado: a capacidade de nomear a própria dor, de decidir e pavimentar o próprio caminho.
A agência política nasce desse despertar.
Não é grito vazio, é escolha; não é caos, é organização.
Por isso assusta tanto.
Um povo que pensa com a própria cabeça não aceita migalhas como destino nem silêncio como virtude.
Ele passa a participar da história, em vez de apenas sofrê-la.
No fim, não é a violência que ameaça os opressores, mas a lucidez — especialmente a coletiva.
Porque ideias libertas não pedem permissão para existir — e, uma vez semeadas, impossibilitam fingir que opressão é ordem e injustiça é destino.
Muitos que reclamam das horas que voam no relógio da cozinha, não caminham com as pantufas da empatia num corredor hospitalar.
É ali, nos silêncios ensurdecedores de verdade nua e crua, que o tempo quase sempre aprende a se arrastar.
Reclamam das horas que voam, impacientes com a demora do café, do almoço, da vida que parece não obedecer ao próprio ritmo.
Mas poucos são os que caminham, ainda que por instantes, pelos corredores hospitalares.
Ali, o tempo não corre — ele pesa.
Cada passo é um acordo silencioso com a incerteza, cada segundo se estica como se quisesse ensinar algo que não cabe em palavras.
O silêncio nunca é vazio: é denso, cru, carregado de verdades que dispensam explicações.
É nesses corredores que o relógio se dissolve e a experiência se materializa.
Onde minutos não se contam, se suportam.
E talvez seja ali que aprendamos que o problema nunca foi o tempo que voa, mas a leveza com que julgamos o peso do tempo do outro.
Talvez o mais trágico não seja os humanos terem que provar para as máquinas, o tempo todo, que não são uma delas.
O drama maior parece estar na naturalidade com que passamos a imitá-las — e, pior, na pressa com que nos deixamos confundir com elas.
A máquina não sente cansaço moral, não hesita diante do outro, não se constrange com a própria indiferença.
Quando o humano começa a responder sem escuta, decidir sem empatia e repetir padrões sem reflexão, não é a tecnologia que o desumaniza: é a abdicação silenciosa daquilo que o tornava distinto.
Há um perigo sutil em trocar o tempo do cuidado pelo tempo da eficiência, a dúvida honesta pela resposta pronta, o encontro pelo desempenho.
Nesse processo, já não é a máquina que nos exige provas de humanidade; somos nós que, pouco a pouco, deixamos de exigi-las de nós mesmos.
No fim, talvez a pergunta mais urgente e necessária não seja “como convencer as máquinas de que somos humanos?”, mas “em que momento nos tornamos tão confortáveis em agir como se não fôssemos?”.
Quem promete amparo sem compromisso não estende a mão; estende o tapete para a ilusão desfilar.
A Crueldade do Fingido “Conte Comigo”
Pouquíssimas atitudes conseguem ser tão medonhas e adversas quanto as dos que oferecem ajuda sem a real intenção de fazê-lo.
Há gestos que ferem mais do que a recusa explícita.
A ajuda oferecida sem a real intenção de ser cumprida carrega um peso extremamente silencioso, quase cruel.
Ela acende uma esperança frágil em quem já está cansado de lutar sozinho, apenas para deixá-la apagar no abandono seguinte.
Esse mau exemplo de atitude a não ser seguido não nasce da generosidade, mas da necessidade de parecer bom, útil ou moralmente elevado.
É um afago no próprio ego travestido de solidariedade.
Quem promete amparo sem compromisso não estende a mão — estende o tapete para a ilusão desfilar.
E ilusão também machuca tanto quanto a desilusão.
Para quem recebe, o dano é duplo: além da dificuldade original, soma-se a frustração de ter acreditado.
A decepção não está só na ajuda que não veio, mas no tempo, na confiança e na dignidade que foram colocados à espera.
Talvez por isso a honestidade curta e grossa — àquela sem rodeios e desculpas esfarrapadas — de um “não posso” seja infinitamente mais humana do que a encenação de um “conte comigo” vazio.
Porque a verdadeira ajuda não se anuncia; ela se concretiza.
E quando não pode ser feita, ao menos não fere fingindo existência.
Viver em sociedade exige concessões silenciosas, não guerras sonoras, a sua liberdade termina onde a minha paz começa.
A Limitação Cognitiva e a Ditadura do Volume
Talvez esperar bom gosto de quem não tem bom senso seja mais um distúrbio: pura limitação cognitiva.
Porque não se trata apenas de preferência musical, mas da incapacidade de compreender que o mundo não é uma extensão do próprio quarto ou da sala, nem um palco particular onde todos são obrigados a assistir ao mesmo espetáculo.
Não dá para esperar um bom repertório escolhido por puro capricho, antes de tudo, para invadir.
O som que atravessa muros, janelas e a paciência alheia deixa de ser expressão cultural para se tornar imposição.
E toda imposição é, em essência, uma forma preguiçosa de poder: a de quem não argumenta, não dialoga, apenas aumenta o volume.
É verdade que o bom gosto é muito subjetivo.
O que agrada a uns pode ser insuportável a outros.
Mas o desrespeito ao bem-estar alheio não é questão de opinião; é um problema concreto de convivência, de civilidade mínima, de noção básica de que o outro existe e importa.
Confundir liberdade com licença para incomodar é um erro muito comum — e perigosamente aceito.
Mas qualquer imbecil funcional deveria ao menos perceber que, num mundo com mais de oito bilhões de pessoas, é impossível escolher vizinhos por afinidade musical ou paixão por ruídos.
Viver em sociedade exige concessões silenciosas, não guerras sonoras.
Exige entender que o direito de fazer barulho termina exatamente onde começa o direito do outro de ter paz.
No fim, o problema não é o volume do som, o estilo musical ou a caixa potente…
É a ausência de empatia caprichosamente amplificada.
E quando o bom senso é desligado, não há playlist que salve a convivência.
Que Deus nos livre dos que confundem alegria com euforia e liberdade com licença para nos incomodar.
- Relacionados
- Textos de amizade para honrar quem está sempre do seu lado
- Frases de Natal para renovar a esperança em cada coração
- Poemas românticos para declarar todo o seu amor
- Mensagens de amizade para valorizar e celebrar quem sempre está ao seu lado
- Frases de alegria para inspirar e tornar o seu dia mais feliz
- Frases espíritas: sabedoria e reflexão para iluminar seu caminho
- Feliz aniversário, mulher guerreira: frases de parabéns para celebrar seu dia