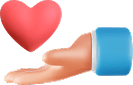KARDEC, FREUD E JUNG: O Inconsciente... MARCELO CAETANO MONTEIRO
KARDEC, FREUD E JUNG:
O Inconsciente Entre o Espírito e a Ciência.
(Análise doutrinária e psicológica a partir de José Herculano Pires)
1. Introdução.
A relação entre o Espiritismo e a Psicologia, especialmente em torno do conceito de inconsciente, tem sido marcada por incompreensões históricas e epistemológicas. Enquanto a ciência psicológica moderna, inaugurada por Freud, concentrou-se na estrutura interna da mente e nos processos pulsionais, o Espiritismo, desde meados do século XIX, já investigava as dimensões mais sutis da consciência, situando-a em uma perspectiva espiritual.
Como bem observou José Herculano Pires, filósofo e um dos mais lúcidos intérpretes da Codificação, muitos psicólogos e psiquiatras acusam o Espiritismo de invadir o campo científico da mente. No entanto, a análise histórica e conceitual revela o oposto: foi o Espiritismo que antecipou, sob bases experimentais e filosóficas, o estudo do inconsciente e da influência das forças psíquicas ocultas sobre o comportamento humano.
2. Kardec e a gênese científica do inconsciente.
Em O Livro dos Médiuns e nas páginas da Revista Espírita (1858–1869), Allan Kardec já descrevia os mecanismos que regem as manifestações anímicas e mediúnicas, distinguindo com precisão o que emanava do Espírito comunicante e o que se originava das camadas profundas da mente do médium aquilo que hoje chamaríamos de conteúdos inconscientes.
Nos estudos sobre o animismo, Kardec reconheceu que o médium podia exprimir, sem o saber, as próprias ideias, memórias e emoções, oriundas de zonas profundas da alma. Esse conceito, formulado cerca de trinta anos antes de Freud publicar A Interpretação dos Sonhos (1900), representa o embrião da teoria do inconsciente, ainda que com amplitude espiritual.
Para Kardec, o inconsciente não se limitava a uma dimensão psíquica reprimida: ele se estendia ao campo espiritual da individualidade, à continuidade da memória e da consciência através das encarnações. Assim, o que Freud situou nos limites da neurose e do recalque, Kardec situou na interação entre o Espírito e o corpo, entre a mente encarnada e as influências do além-túmulo.
Em A Gênese, capítulo XIV, Kardec adverte:
“O Espírito traz, ao renascer, o germe das suas imperfeições anteriores; é a isso que o homem deve os seus instintos maus.”
Trata-se, de fato, de uma formulação psicológica do inconsciente moral e espiritual um repositório de experiências pretéritas que orientam a conduta atual.
3. Freud: o inconsciente biográfico e instintivo.
Sigmund Freud (1856–1939) formalizou o conceito de inconsciente como o conjunto de conteúdos reprimidos, desejos e impulsos não aceitos pela consciência. Seu método a psicanálise buscou trazer à luz esses conteúdos, integrando-os de modo terapêutico.
Contudo, o inconsciente freudiano é essencialmente biográfico e sexualizado, determinado pelos instintos e pela história pessoal. Ele não ultrapassa os limites da vida presente. Assim, o “inconsciente freudiano” é um porão da consciência, enquanto o “inconsciente kardeciano” é um arquivo do Espírito imortal.
A genialidade de Freud residiu em desvelar os mecanismos de repressão e deslocamento, mas sua limitação como Herculano Pires destaca esteve em reduzir o homem ao psiquismo carnal, ignorando o campo espiritual e a transcendência da consciência.
4. Jung: o inconsciente coletivo e o arquétipo do Espírito.
Carl Gustav Jung (1875–1961) ampliou a visão freudiana ao postular a existência de um inconsciente coletivo, composto por imagens e símbolos universais herdados da experiência humana. Com Jung, a Psicologia aproximou-se novamente do espiritual, reconhecendo o símbolo, o mito e o arquétipo como expressões da alma profunda.
É nesse ponto que as ideias de Jung se aproximam, de modo notável, das formulações espíritas. Kardec, décadas antes, já havia abordado a existência de influências coletivas espirituais, de vínculos morais universais e de camadas psíquicas compartilhadas entre os Espíritos.
Ao tratar das comunicações em grupos mediúnicos, Kardec percebeu que determinadas ideias, sentimentos e imagens não provinham de um indivíduo isolado, mas de uma corrente espiritual coletiva, análoga ao conceito junguiano de “inconsciente coletivo”.
Como observou Herculano Pires, “Kardec foi mais fundo que Freud”, pois alcançou o problema do inconsciente em sua dimensão espiritual e moral, e anteviu o que Jung mais tarde denominaria arquétipos universais.
5. A síntese de Herculano Pires: o inconsciente integral.
José Herculano Pires. compreendeu que o Espiritismo representa a síntese do humano integral corpo, mente e Espírito. A Doutrina não se opõe às ciências psicológicas; antes, oferece-lhes o complemento metafísico e ético que lhes falta.
Quando Herculano afirma que “a Ciência Espírita não se opõe às Ciências Materiais em nenhum campo”, ele reivindica a união entre o saber do Espírito e o saber da matéria. Freud revelou o inconsciente das paixões humanas; Jung, o inconsciente simbólico da humanidade; Kardec, o inconsciente espiritual do ser eterno.
Em seu pensamento, o Espiritismo não invalida a Psicologia moderna a completa. Onde Freud viu culpa, Kardec viu expiação; onde Jung viu arquétipo, Kardec viu reminiscência espiritual; onde ambos viram sombra, Kardec viu aprendizado moral em processo.
6. Conclusão: ciência e Espírito duas metades da verdade.
A análise comparativa entre Kardec, Freud e Jung revela que a verdadeira compreensão do inconsciente exige uma visão pluridimensional do ser humano. A mente não é apenas um produto do cérebro, mas a expressão visível de uma alma que transcende o tempo.
O Espiritismo, longe de ser uma superstição, é o elo perdido entre a Psicologia e a Filosofia do Espírito. Ele resgata o homem total aquele que pensa, sofre, ama e reencarna.
Freud investigou o homem em conflito; Jung, o homem em busca de sentido; Kardec, o homem em evolução espiritual.
E, como conclui Herculano Pires,
“O Espiritismo não é um retorno ao misticismo: é a volta da razão à luz do Espírito.”
(A visão de José Herculano Pires sobre o inconsciente à luz do Espiritismo).
Muitos psicólogos e psiquiatras contemporâneos, ainda hoje, sustentam a ideia de que o Espiritismo invade os domínios das ciências médicas e psicológicas quando se manifesta sobre as perturbações mentais e psíquicas. Tal julgamento, no entanto, revela mais desconhecimento do que crítica. Ignoram que foi precisamente o contrário que ocorreu: o Espiritismo não invadiu território algum — foi precursor.
Sem um estudo sério da Doutrina Espírita e de sua história científica, esses estudiosos julgam apressadamente os fenômenos obsessivos como simples desequilíbrios endógenos, produtos das estruturas psico-mentais do paciente em relação a fatores ambientais. Reduzem as manifestações espirituais a disfunções orgânicas, a distúrbios cerebrais ou afetivos, negando qualquer dimensão transcendente da consciência.
Para eles, o inconsciente seria a sede única e exclusiva de todos os distúrbios psíquicos. Assim, acusam os espíritas de confundirem “fantasmas imaginários” — projeções das patologias internas — com os “fantasmas reais” que povoam as antigas crenças religiosas e mágicas da Humanidade. Nessa visão estreita, o Espiritismo representaria uma regressão, um retorno ao obscurantismo da superstição.
Contudo, a verdade histórica é outra. Freud tinha apenas um ano de idade quando Allan Kardec, com rigor e método, levantou pela primeira vez o problema do inconsciente em termos científicos, durante suas pesquisas sobre os fenômenos espíritas — hoje reconhecidos sob o termo de fenômenos paranormais. Kardec, nesse campo, foi mais fundo do que Freud, ao abordar não apenas os mecanismos ocultos da mente, mas também a interação entre o Espírito e o inconsciente.
Em suas análises do animismo nas manifestações mediúnicas — e das interferências anímicas em comunicações autênticas — Kardec destacou, com clareza notável, a importância das manifestações inconscientes no comportamento individual e coletivo. Assim, antecipou de modo extraordinário as futuras teorias dos arquétipos individuais e coletivos, que somente muito tempo depois seriam estudadas por Adler e Jung.
Enquanto Freud limitava-se à interpretação dos sonhos e aos conflitos instintivos do “isso” e do “ego”, Kardec, durante doze anos de laboriosa pesquisa na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, realizou autênticas experiências de psicologia experimental — muito antes que o termo fosse incorporado à linguagem acadêmica. Seus registros metódicos e comparações sucessivas dos estados psíquicos revelaram uma compreensão avançada da estrutura mental humana e de suas aberturas espirituais.
Hoje, as pesquisas de parapsicologia conduzidas nos principais centros universitários do mundo confirmam, com rigor científico, a exatidão das observações kardecianas.
Esses esclarecimentos históricos, como salientava José Herculano Pires, têm um propósito eminentemente prático: prevenir que as vítimas de obsessão e seus familiares se deixem conduzir por equívocos fatais, interpretando os fenômenos espirituais apenas sob a ótica materialista.
O Espiritismo não se opõe à Ciência. Pelo contrário — a Ciência Espírita é sua colaboradora natural, oferecendo-lhe a necessária complementação espiritual das suas descobertas e ampliando o horizonte de suas investigações sobre o ser humano integral.
A veracidade dessas afirmações pode ser facilmente comprovada pela leitura direta das obras de Allan Kardec, especialmente os relatos de obsessão e desobsessão contidos na Revista Espírita — coleção já integralmente traduzida para o português, onde o Codificador expõe, com notável lucidez, os fundamentos psicológicos e espirituais do comportamento humano.
José Herculano Pires.
(Comentário aprimorado sobre o texto da obra Allan Kardec, Freud e o Inconsciente)
Referências Bibliográficas
Kardec, Allan. O Livro dos Médiuns. Tradução de José Herculano Pires. São Paulo: Edicel.
Kardec, Allan. A Gênese. Cap. XIV.
Kardec, Allan. Revista Espírita (1858–1869).
Freud, Sigmund. A Interpretação dos Sonhos.
Jung, Carl G. A Natureza da Psique.
Pires, José Herculano. Allan Kardec – Freud – O Inconsciente. São Paulo: Paidéia.