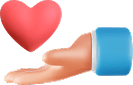A falta que sentimos do que ainda não... Marlon Manhani
A falta que sentimos do que ainda não vivemos…
Em muitos momentos da vida, acreditamos estar sentindo falta de alguém.
Mas, se formos honestos e silenciosos o suficiente para observar, perceberemos que não é exatamente da pessoa que sentimos falta.
Sentimos falta da história que começamos a escrever com ela.
Não é ausência.
É interrupção.
A mente humana tem uma capacidade extraordinária de projetar futuros. Antes mesmo que algo exista de fato, o cérebro já ensaiou diálogos, construiu rotinas, imaginou casas, viagens, pertencimento. Criou uma narrativa inteira — sem que nada disso tenha acontecido no mundo real.
A neurociência chama isso de simulação prospectiva.
O cérebro antecipa experiências para se preparar para elas.
Mas, emocionalmente, ele não diferencia tão bem o que foi vivido do que foi apenas imaginado com intensidade.
Por isso, quando algo não se concretiza, não sofremos apenas pela perda de alguém.
Sofremos pela perda de um caminho inteiro que já havia sido aceito internamente como destino.
É o luto do que não aconteceu.
E esse luto é silencioso, porque não há memórias suficientes para justificar a dor.
Há apenas expectativas que não encontraram lugar na realidade.
Mas existe uma segunda camada, ainda mais sutil.
Quando aquilo que imaginamos não se realiza — principalmente quando depende do outro — o cérebro muda de estado. Ele sai do campo do vínculo e entra no campo da conquista.
O que antes era afeto passa a ser desafio.
Isso acontece porque o sistema de recompensa do cérebro, regulado principalmente pela dopamina, não responde apenas ao prazer de ter algo. Ele responde, sobretudo, à possibilidade de obter algo que ainda não foi alcançado.
A ciência chama isso de erro de previsão de recompensa.
Nós nos tornamos mais motivados quando:
• quase conseguimos,
• quando há incerteza,
• quando não está garantido.
O desejo cresce na ausência.
Não porque aquilo seja mais valioso, mas porque ainda não foi resolvido.
Assim, o que parecia amor, às vezes era ativação.
Não era a pessoa que nos prendia.
Era o estado interno de busca.
Quando conquistamos, o cérebro reduz esse impulso — porque aquilo já não exige esforço, já não representa novidade, já não carrega tensão.
E então confundimos estabilidade com perda de interesse.
Na verdade, são sistemas diferentes operando:
O da conquista busca intensidade.
O do vínculo busca continuidade.
Um produz excitação.
O outro produz construção.
Se não soubermos distinguir, passamos a vida tentando reviver o primeiro, incapazes de permanecer no segundo.
Por isso, muitas vezes, queremos mais aquilo que não temos do que aquilo que já está presente.
Não porque seja melhor.
Mas porque o cérebro foi desenhado para perseguir, não para repousar.
E é aqui que mora o equívoco.
Relacionamentos não são metas a serem atingidas.
São realidades a serem habitadas.
Metas terminam quando são alcançadas.
Vínculos começam exatamente aí.
Quando entendemos isso, algo muda.
Percebemos que não estamos tentando esquecer alguém.
Estamos apenas ensinando o cérebro a encerrar uma simulação que continuava rodando sozinha.
Não precisamos lutar contra o sentimento.
Precisamos retirar a energia da projeção.
O que não aconteceu não precisa ser resolvido.
Precisa apenas deixar de ser continuado dentro de nós.
E, pouco a pouco, o desejo deixa de ser urgência.
A ausência deixa de ser falta.
E a mente, que antes insistia em terminar uma história imaginada, aprende a voltar para aquilo que está vivo — agora, concreto, imperfeito, mas real.
Porque maturidade emocional talvez seja exatamente isso:
Parar de confundir intensidade com verdade.
E escolher, conscientemente, aquilo que cresce com o tempo — não aquilo que apenas nos acende por um instante.