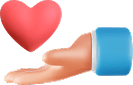O instante exato em que uma consciência... Monalisa Ogliari
O instante exato em que uma consciência percebe que é finita e, ainda assim, continua desejando o infinito não acontece como um choque, mas como uma convivência silenciosa. Os seres humanos vivem a ilusão do infinito porque só é possível viver o presente considerando que a vida é eterna. Se pararmos continuamente para pensar que a vida é finita e que tudo passará, tudo perde o sentido. Para construir sentidos no mundo, precisamos da ideia de infinito, embora saibamos racionalmente que a vida é finita. A regra torna-se então saber que a vida é finita, mas viver como se fosse infinita, pois isso gera projetos de longo prazo e sensação de continuidade. A vida é finita, mas os desejos são infinitos. E enquanto os desejos são infinitos, somos também infinitos.
Se a memória tivesse um corpo físico, o tipo de matéria que ela poderia ser talvez não fosse mineral nem orgânica isoladamente, mas a própria forma humana. A memória poderia ter o corpo de um homem ou de uma mulher, porque um ser humano é feito de memória. Seu tronco, seus braços, seus lábios e seus olhos seriam apenas a matéria em que a memória se manifesta. A memória é um acontecimento que se expande por todo o corpo por meio de células interligadas. Assim, a memória seria um corpo que caminha carregando em si o tempo passado, o tempo presente e a expectativa do tempo futuro, um corpo que age ao existir, porque existir já é lembrar.
Explicar o amor sem recorrer a palavras associadas a afeto, corpo ou emoção é reconhecer que ele se instala quando as necessidades básicas de sobrevivência encontram estabilidade. Primeiro vêm alimentação, moradia, segurança e pertencimento. Quando o básico se estabelece, surge a equação que coloca o amor como o ponto mais alto da estrutura humana, pois ele representa a necessidade de vinculação e de partilha de mundo. Sozinhos, estamos em um território pouco compreendido; com o outro, criamos um campo de significados compartilhados. O amor torna-se então o encontro de dois mundos que se influenciam mutuamente, a forma mais elevada de integração à realidade e de atribuição de sentido à própria ação.
Quando o tempo decide parar de obedecer aos humanos, o primeiro dia dessa rebelião silenciosa acontece sem alarde. Ninguém precisa acordar pela manhã, porque não há manhã. Qualquer horário serve para acordar, porque não há mais horário. O trabalho não tem início definido, nem término previsto. Tudo fica suspenso e tudo pode começar a qualquer momento. O tempo, que organizava a mente humana, dissolve-se. Sem ele, a vida deixa de ser fragmentada e passa a fluir de forma intuitiva. A existência deixa de ser uma sequência e se torna um campo contínuo, onde as ações já não obedecem a uma régua invisível.
A inteligência que cresce em ambientes hostis pode ser compreendida como uma pequena chama que insiste em permanecer acesa na escuridão. O ambiente é amplo e adverso, mas essa chama, embora pequena, ilumina o suficiente para reorganizar o espaço ao redor. Ela não é um incêndio, apenas um ponto persistente que transforma o ambiente ao revelar camadas que antes não eram percebidas. Assim, a inteligência em ambiente hostil não domina pela força, mas pela capacidade de mobilizar e reorganizar o que parecia imóvel.
Quando alguém descobre que viveu metade da vida sendo uma versão traduzida de si mesmo, ocorre um deslocamento interno profundo. A pessoa percebe que nunca teve controle total sobre a própria trajetória e que a vida é atravessada por ilusões e projeções difíceis de identificar. Surge a pergunta sobre autenticidade em um mundo cheio de nuances imperceptíveis. Esse reconhecimento não destrói a identidade, mas inaugura um despertar ontológico, uma tentativa de viver o restante da existência com maior integridade e consciência, ainda que nunca haja certeza absoluta de autenticidade.
Se a linguagem pudesse adoecer, seus sintomas mais perigosos seriam a revelação involuntária das estruturas ocultas da sociedade. Ela deixaria de ser domesticada e passaria a expor o que antes permanecia velado. O poder perceberia primeiro essa doença, porque seria o mais ameaçado por uma linguagem que já não obedece. O poeta reconheceria a mudança como parte de seu próprio território de experimentação. O louco, imerso em seu universo particular, seria afetado de modo indireto, como quem vive em uma margem onde a linguagem já se encontra em estado instável.
O encontro entre duas ideias que se odeiam, mas dependem uma da outra para existir, seria breve e inevitável. Haveria um cumprimento mínimo e o reconhecimento mútuo de necessidade. Cada uma afirmaria silenciosamente ao outro que a existência própria só se sustenta pela presença daquilo que rejeita. Assim, a convivência não seria harmônica, mas estrutural. Permaneceriam juntas não por escolha, mas por impossibilidade de separação.
Perguntar o que é mais pesado — aquilo que nunca aconteceu ou aquilo que aconteceu e não pode mais ser alterado — conduz a uma conclusão direta: ambos carregam peso. O que não aconteceu pesa como possibilidade perdida; o que aconteceu e não pode ser alterado pesa como permanência irreversível. Cada um ocupa um tipo diferente de densidade dentro da experiência humana, mas nenhum deles é leve.