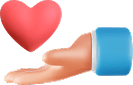Eu não perdi a fé. Eu perdi a... Monalisa Ogliari
Eu não perdi a fé.
Eu perdi a paciência com sistemas que exigem que eu me diminua para existir.
Durante muito tempo achei que meu conflito era espiritual. Depois entendi que era ético. E, mais tarde, estrutural. Meu problema nunca foi Jesus — foi o que fizeram dele.
Eu não consigo aceitar um cristianismo que transforma sofrimento em virtude, culpa em pedagogia e obediência em salvação. Não consigo entrar numa igreja e ver um corpo torturado pendurado na cruz como se aquilo fosse a imagem máxima do amor. Já sofri o suficiente. Não preciso venerar dor para aprender nada sobre a vida.
Vejo Jesus como um homem ético, valoroso, radical na sua forma de existir. Mas não sei — e talvez nunca saibamos — quem ele foi de fato. O que temos são textos escritos décadas depois, atravessados por interesses, disputas e necessidades teológicas. A Bíblia não é mentira; é parcial. E toda leitura honesta começa reconhecendo isso.
Questiono os milagres, a ressurreição, a ideia de “filho único de Deus”. Se todos não somos filhos, então a ética já nasce hierárquica. E eu desconfio profundamente de hierarquias — sobretudo das que se dizem sagradas.
A lógica do sacrifício me repugna. A ideia de que alguém precisava morrer para redimir outros normaliza a violência e santifica o sofrimento. Quando sofrer vira caminho espiritual, alguém sempre lucra com a dor alheia. Historicamente, isso custou vidas demais: santos, hereges, mulheres, povos inteiros queimados em nome de uma verdade absoluta.
Se o cristianismo não tivesse virado instituição, talvez menos gente tivesse morrido. O problema não foi a fé — foi a certeza organizada, a moral transformada em poder, a ética convertida em doutrina obrigatória. Quando Paulo transforma um modo de vida em sistema universal, nasce também a infraestrutura do controle.
Eu vivi isso de perto. Participei de um grupo espiritual hierárquico, cheio de regras morais e títulos vazios. Vi pessoas competentes serem diminuídas enquanto figuras no topo eram blindadas. Vi pequenos comportamentos virarem pecado enquanto desvios financeiros eram espiritualizados. Vi exploração financeira travestida de ritual. E quando eu consegui nomear isso — exploração — acabou. Não dá para desver.
Aprendi que, em sistemas assim, o valor não vem do que você é, mas do quanto você se submete. Não se mede ética; mede-se adesão. E quando o sagrado começa a exigir dinheiro, silêncio e obediência como prova de elevação, ele já virou negócio.
Também não suporto o cristianismo do grito, do espetáculo emocional, do testemunho que transforma Deus em corretor imobiliário. “Rezei e ganhei um carro”, “orei e recebi uma casa”. Esse Deus é milionário — e seletivo. Para uns, bens. Para outros, silêncio. Para muitos, culpa.
Minha ética não suporta isso. Não acredito num Deus que recompensa privilégio e chama exclusão de mistério. Não acredito em perdão obrigatório que protege canalhas e regula quem já foi ferido demais. Perdão sem responsabilização não é virtude; é licença.
Hoje eu sei: pensar assim tem custo. Perdi pertencimentos. Fiquei fora. Virei a pessoa que observa em vez de ajoelhar. Mas não perdi a mim mesma. Aprendi a impor limites, a dizer “isso não diz nada para mim”, a não desaparecer para manter harmonia.
Se isso me coloca fora do cristianismo tradicional, que seja. Prefiro uma ética sem joelho no chão a uma fé que exige autoapagamento. Prefiro não saber certezas confortáveis a aceitar mentiras que me adoecem.
Não escrevo para convencer.
Escrevo para não me trair.
Se existe alguma espiritualidade possível para mim, ela não passa pela sacralização da dor, nem pela hierarquia, nem pelo medo. Passa pela dignidade. E isso, eu não negocio.