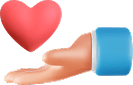Desculpas Amor Nao Correspondido
ONDE O SILÊNCIO FALA.
No tempo onde o vento sussurra teu nome,
repousa a lembrança que não dorme um véu de luz e distância,
feito de sombra e esperança.
Tuas mãos, ficaram no outono,
entre as folhas que dançam sem dono; e o mundo parece menor desde então,
porque em mim ecoa tua canção.
Há dias em que o céu me devolve teu olhar, como se o azul soubesse amar.
E eu que me rendo à dor com sorriso chamo-te em silêncio, como quem reza um aviso.
Se fores estrela, brilha em mim,
se fores vento, toca-me assim.
Mas se fores só lembrança e eternidade,
permanece... como ficou tua saudade.
“Entre o corpo e o infinito não há serenidade sem responsabilidade, nem harmonia sem esforço moral.
Agir com calma, compreender o outro, e converter as experiências em degraus de crescimento é o caminho seguro para a verdadeira paz. Essa serenidade não é passividade, mas sabedoria em ação: é a força de quem aprendeu a reagir com luz diante das sombras do mundo.
Entre o corpo e o infinito, o Espírito humano constrói sua eternidade. Cada gesto de cuidado, cada palavra de amor e cada pensamento de fé convertem-se em sementes que florescem no jardim da alma.
A educação moral, a comunicação consciente e a oração sincera são os três pilares de uma nova civilização mais fraterna, mais justa e espiritualmente desperta.
Que saibamos, pois, reencontrar o equilíbrio entre a matéria e o espírito, transformando o cotidiano em um hino silencioso de amor e progresso.
“A verdadeira paz nasce quando a alma aprende a conversar com Deus dentro de si.””
O Funeral do Sentimento.
A doença não é do corpo é da lembrança.
Diviso, às vezes, o meu próprio funeral: não há lágrimas, só o eco das minhas palavras presas nas paredes do quarto.
Sobre o caixão, o quadro: inacabado, obstinado, com aquele mesmo olhar que me persegue.
É o retrato daquilo que amei e daquilo que fui.
Talvez o amor seja isto — a tentativa insana de imortalizar o que o tempo já levou.
Talvez a morte seja apenas a moldura que encerra o último sonho.
Entre a Solidão e a Incompreensão.
“Existem pessoas que não reclamam da solidão mais que aquelas que as criticam. Existem mais pessoas incompreendidas que solitárias.”
Há uma diferença sutil, porém decisiva, entre estar só e não ser compreendido.
A solidão pode ser um retiro voluntário da alma que busca silêncio para florescer. Já a incompreensão é um exílio imposto — um afastamento moral que nasce quando o coração fala uma linguagem que os outros não escutam.
Muitos temem a solidão porque confundem o recolhimento com abandono.
Entretanto, há espíritos que, mesmo isolados, irradiam presença e serenidade, enquanto outros, rodeados de vozes, sentem o peso do vazio interior.
A verdadeira solidão não está na ausência de corpos próximos, mas na ausência de almas que nos compreendam.
Psicologicamente, a incompreensão toca uma ferida ancestral: o desejo de sermos aceitos como somos.
Quando o ser percebe que sua maneira de sentir é distinta, que seus valores destoam da pressa e da superficialidade do mundo, ele se recolhe não por fuga, mas por proteção da própria sensibilidade.
É nesse silêncio que o autoconhecimento floresce, e a alma aprende a encontrar em Deus o eco que faltou nos homens.
A existência nos ensina que toda alma traz experiências múltiplas, provenientes de outras existências, o que explica a diferença de maturidade espiritual entre os seres.
Muitas vezes, quem hoje é incompreendido caminha alguns passos à frente, porque já compreendeu o que os outros ainda temem enxergar.
Por isso, a solidão, para o Espírito evoluído, deixa de ser dor e se transforma em laboratório de luz interior.
LAMÚRIAS SOB AS SOMBRAS.
“Há luzes que não iluminam — apenas revelam a escuridão que trazemos por dentro.”
"Eu perdoo porque há dores maiores em mim."
Há feridas que não se veem, mas que brilham como estrelas dentro do peito. São dores antigas, silenciosas, que aprenderam a se calar para não assustar os outros. No entanto, é delas que nasce o perdão não como renúncia, mas como uma forma delicada de libertar o próprio coração.
Perdoar não é esquecer. É olhar para o outro e compreender que ele também se perdeu no caminho, talvez ferido pelas mesmas sombras que um dia nos alcançaram. Há uma nobreza secreta em quem sofre e, ainda assim, escolhe oferecer ternura.
Quando a alma amadurece, descobre que o rancor pesa mais que uma cruz. E é então que o perdão floresce, suave, quase tímido como uma flor que desabrocha no deserto. Ele não apaga a dor, mas a transforma em luz.
Eu perdoo porque compreendo. Porque sei que, se não o fizesse, seria a minha dor que me prenderia ao que já passou. E a vida é tão breve, tão urgente em sua beleza ou mesmo em sua aparente tristeza, que não merece ser gasta guardando espinhos.
Por isso, perdoo.
Não por grandeza, mas por necessidade de respirar. Porque dentro de mim, entre as cicatrizes, ainda há espaço para a pureza.
No Longe Que Eu Aprendi A Sentir A Realidade.
Longe é apenas o nome que damos ao que não sabemos como vicejar.
Não é o espaço que nos separa, mas o silêncio entre dois corações que ainda se chamam.
Quando o amor for verdadeiro, nenhuma estrada o dissolve ele continua a pulsar no intervalo das lembranças, entre o que fomos e o que deixamos de dizer.
A saudade é alguém gritando por nós através do tempo.
É o som da memória pedindo para ser escutada, o eco do que não morreu inteiramente.
Há vozes que não cessam, mesmo quando o mundo silencia.
Elas habitam o ar, os objetos, o perfume antigo que o vento traz sem querer.
Quem já amou profundamente sabe:
não há fronteira capaz de separar o espírito do sentimento, mesmo de nenhum sentimento...
O longe é um disfarce que enfeita o amor, mesmo calado, continua a escrever cartas invisíveis, para ser plenamente mais sincero...para não mais doer, para não mais ser compreendido porque esta algemado na mesma saudade de lágrimas da saudade.
E a saudade…
a saudade é o envelope que nunca se fecha.
Capítulo XVIII –
CARTA QUE O TEMPO RASGOU.
Livro: NÃO HÁ ARCO-IRIS NO MEU PORÃO.
Joseph bevouir - Escritor.
“Nem toda carta enviada busca destino. Algumas apenas desejam ser lidas pelas mãos do esquecimento.”
— Joseph Bevoiur, manuscrito recolhido ao lado de um relicto de piano sem teclas.
Camille Marie Monfort,
Perdoa-me por ainda escrever.
É que há sons que não cessam —
mesmo quando o mundo silencia.
E há nomes que continuam exalando perfume,
mesmo quando já se foram há muitas estações.
Esta noite, enquanto as janelas se recusavam a refletir o luar
e os espelhos evitavam meu rosto,
ouvi pela décima vez ou milésima aquela gaita de fole espectral.
Sim, Camille…
a mesma que ecoava nas colinas do meu delírio,
com sua melodia lancinante,
como se um fantasma pastor estivesse a ensaiar seu lamento
por um rebanho que jamais existiu.
Mas hoje, ouvi algo mais.
Ouvi o acompanhamento insólito
de um piano lírico porém, não qualquer piano.
Não, Camille…
Esse não tocava notas,
mas sons secos,
golpes vazios de teclas que não mais se movem.
E então perguntei, para o teto da noite,como um exorcista cansado:
_Quem executa essa gaita de fole tão covardemente ao amor
que, até é acompanhada por sons secos vindos das teclas de um piano lírico
quando esse nem por anacronismo poderia assim existir?
Não recebi resposta, como era de se esperar.
Talvez fosse tua sombra que ali dançava.
Ou talvez e essa é a hipótese que me fere seja apenas minha culpa tentando compor uma sinfonia
com os restos do que não vivi contigo.
Fica, então, esta carta não como súplica,não como epitáfio,mas como o último gesto de um homem que aprendeu a sofrer com elegância,à tua imagem e semelhança a ti, tão somente a ti mesma.
Não peço que me leias.
Peço apenas que, caso a brisa leve este papel aos teus pés etéreos,não o pises.
Pois cada palavra aqui escrita
ainda traz o peso do meu nome
e a leveza do teu.
- Joseph Bevoiur
(ainda ajoelhado entre ruínas, onde o amor se transforma em som que ninguém ouve.)
O PORÃO ONDE FLORESCEM AS SOMBRAS.
O porão de Camille Monfort não tinha janelas. Era feito de lembranças úmidas e de passos que o tempo abafara. Lá, as sombras não apenas se escondiam — elas germinavam. Cada móvel esquecido parecia guardar a respiração de um sonho que nunca se realizou.
Camille não temia o escuro; temia o que o escuro dizia. Havia aprendido cedo que a dor, quando não encontra ouvido, cava abrigo nas profundezas da alma. E o seu porão era esse abrigo: um lugar onde as dores antigas faziam morada, conversando entre si como velhas conhecidas.
Dizia-se que ela tinha o dom de ouvir o que o silêncio confessa. Talvez fosse apenas sensibilidade demais, ou talvez, como acreditavam os que a conheciam de perto, Camille visse o que os outros apenas pressentiam — as linhas tênues que ligam a dor ao destino.
Certa vez, ao descer com uma lamparina trêmula, viu que algo nas sombras respirava. Não era medo, era reconhecimento. As sombras sabiam seu nome. Ali, no fundo mais fundo, Camille compreendeu que cada lembrança ferida é uma semente: floresce, sim, mas sob a terra escura.
E o porão, esse lugar de exílios interiores, tornou-se também o seu jardim. Um jardim de sombras floridas onde o sofrimento, ao ser aceito, se transfigura em perfume.
Camille Monfort entendeu que não se foge das sombras: conversa-se com elas. E, quando enfim o fez, ouviu de dentro de si mesma uma voz que dizia:
“A luz não nasce do alto, Camille. Ela brota de onde o escuro cansou de ser silêncio.”
O porão onde Camille Monfort habitava suas lembranças não ficava sob a casa ficava sob ela mesma. Era o subterrâneo da alma, o espaço onde os passos ecoam mesmo quando o corpo já não se move.
Ali, as sombras não eram ausência de luz, mas presenças antigas, sobreviventes do que fora esquecido. Tinham cheiro de infância úmida, de solidão e de papéis que nunca foram escritos. Cada objeto abandonado contava um trecho de sua história: a boneca sem olhos, o retrato sem moldura, o espelho que refletia apenas o que a alma ousava encarar.
Camille descia sempre que o silêncio se tornava insuportável. Levava nas mãos uma vela, como se conduzisse a si mesma a uma cerimônia de reconciliação. Ao descer, sabia que cada degrau era também uma descida interior e que as sombras esperavam não para assustar, mas para serem vistas.
Um dia, ao tocar o chão frio, sentiu que algo se movia entre as paredes. Era o murmúrio das memórias que ainda pediam voz. Então ela compreendeu: nada que é reprimido morre apenas muda de morada. E, naquele instante, o porão deixou de ser cárcere para tornar-se útero.
Camille descobriu, enfim, que as sombras florescem quando são compreendidas. Que o perdão é a luz que germina sob o peso da terra. Que a alma, quando aceita o próprio abismo, encontra a passagem secreta para a paz.
E foi assim que ela, a mulher das sombras, subiu novamente as escadas sem lamparina, sem medo trazendo nos olhos um brilho novo. A luz que antes buscava fora, agora nascia nela.
“O porão não era o fim, era o começo. Toda flor primeiro é sombra.”
A CLARIDADE DA TUA VERDADE.
Dizer a tua verdade, é um ato de resgate íntimo não uma sentença sobre o outro. É o momento em que a tua consciência decide deixar de viver nas sombras do não-dito para respirar na inteireza do que sente, percebe e compreende. A tua verdade nasce de dentro, moldada pelas experiências que só tu viveste, pelas sensibilidades que só tu conheces, pelas feridas e pela luz que só tu carregas.
Quando alguém expressa sua própria verdade, não está criando tribunais, nem ergue paredes morais que acusem o outro de falsidade. A verdade pessoal não tem vocação para arma; tem vocação para libertação. A tua verdade é tua e, por isso mesmo, não precisa desmerecer a história, o olhar ou a compreensão de ninguém. Cada consciência habita uma moldura distinta, e é dessa moldura que emergem percepções que podem convergir ou divergir.
Psicologicamente, dizer a própria verdade significa assumir responsabilidade pela própria visão de mundo, sem depositar no outro o peso do que se sente. É o ato de nomear emoções para libertá-las, não para condenar alguém com elas. É a coragem de não silenciar o que te fere, mas também de não transformar tua ferida em acusação. É assumir-se inteiro sem exigir que o outro responda à tua inteireza.
No âmbito introspectivo, expressar a verdade é um exercício de alinhamento. Quando permaneces calado por medo, receio ou prudências excessivas, tua alma se contorce num labirinto onde tu mesmo te perdes. Mas quando falas com honestidade, ainda que tua voz tremule, não se trata de desmascarar ninguém trata-se de te reencontrar. É o momento em que compreendes que a tua verdade não precisa da mentira alheia para existir: ela se sustenta por si mesma.
Atribui sentido galopante ao teor de alforria. A libertação que vem do gesto simples e profundo de dizer: “É assim que vejo, é assim que sinto.” A tua verdade não vai atrás de culpados; vai atrás de coerência. Ela não exige reverência; exige respeito por ti mesmo. Ela não aponta dedos; abre portas.
Quando dizes a tua verdade, tu te libertas e libertas também o outro. Porque tiras dele o jugo da interpretação, da adivinhação, da suposição. Permites que cada um permaneça no seu lugar de consciência, devolvendo a cada qual a dignidade de sua própria narrativa.
Dizer a tua verdade não transforma ninguém em mentiroso. Apenas te devolve ao território sagrado onde tua alma respira sem medo.
A Força que tu és em ti e além.
Há algo em cada ser que não pode ser nomeado.
Uma vibração antiga, anterior ao próprio pensamento.
Vem das origens, quando o mundo ainda era apenas respiração e promessa.
Essa força, que alguns chamam destino, é o fundamento invisível sobre o qual cada vida se ergue.
Em certos instantes ela desperta às vezes no meio da dor, outras na solidão que se instala como noite.
Então, o homem percebe que não caminha sobre a terra: é a terra que o atravessa.
Os rios fluem também por dentro dele; as montanhas se erguem em seu silêncio.
Nada é alheio. Tudo o contém.
Contudo, essa força não guia oferece-se.
Pede direção, pede forma, pede gesto.
Não se impõe; aguarda o instante em que o ser humano deixa de resistir e começa a escutar.
Quem a escuta, muda.
Quem a molda, cria.
Quem a nega, se dispersa em suas próprias sombras.
Há um ponto em que o espírito compreende que a vida não é espetáculo, mas tarefa.
O mesmo sopro que move as estrelas habita a respiração de um só instante.
E é ali, no íntimo dessa respiração consciente, que o homem reencontra a si mesmo.
Transformar-se é o trabalho de toda uma existência.
Não é vencer o mundo, mas reconciliar-se com ele.
Dar à força interior o rosto da ternura, a direção da coragem, o tom sereno da maturidade.
Quando isso acontece, o ser já não precisa buscar sentido ele se torna o próprio sentido.
Assim, a natureza em ti deixa de ser impulso e se converte em substância espiritual.
Nada de grandioso se impõe; tudo se eleva discretamente, como uma chama que não precisa de vento para permanecer acesa.
Tu és essa força, e és também quem lhe dá forma.
O universo apenas te oferece o barro; és tu quem o transforma em rosto.
“Não temas o peso da tua própria profundidade.
Aprende a habitar o teu deserto, pois é lá que o invisível se revela.
Tudo o que te parece ausência é apenas o espaço sendo preparado para o milagre.”
“Continua. A tua dor ainda não amadureceu o bastante para dizer o que veio dizer.”
NÃO HÁ ARCO-ÍRIS NO MEU PORÃO — CONTINUIDADE.
Havia dias em que o porão respirava antes de mim.
Ele exalava um ar morno e antigo, como se fosse o pulmão cansado de uma casa que aprendera a guardar segredos demais. Eu descia os degraus devagar, escutando o ranger que nunca deixava de soar como um aviso não um aviso de perigo, mas de revelação. Porque o porão não dói: ele apenas devolve o que és.
E naquele dia, a luz que escorria pela fresta da porta parecia ainda mais tímida, como se tivesse vergonha de tocar as superfícies que me acompanhavam desde a infância.
Era estranho pensar que eu crescera tentando fugir de mim, quando na verdade tudo o que o porão queria era que eu me sentasse no chão frio e o escutasse.
As lembranças começaram a surgir em ondas baixas, como se alguém soprasse perto do meu ouvido. Não eram memórias lineares, mas fragmentos inquietos. O rosto de alguém que não sabia amar; a voz de alguém que soube ferir; a ausência de mãos que deveriam ter me segurado quando eu caía.
E, acima de tudo, a velha sensação de que o mundo lá fora não tinha espaços para os meus silêncios.
Foi então que percebi: o porão não era um cárcere, mas um espelho.
E espelhos, quando te devolvem inteiro, costumam ferir mais que qualquer lâmina.
Sentei-me. Ouvi. Respirei. A dor tinha um timbre próprio, e eu quase podia vê-la, uma figura pálida encostada na parede, observando-me com a paciência das coisas que não envelhecem.
Eu a encarei.
E, pela primeira vez, ela não recuou.
“Eu não vim para te destruir”, parecia dizer sem palavras. “Vim para te mostrar onde colocaste as tuas ruínas.”
Meu peito apertou. Não por medo, mas por reconhecimento.
Porque cada pessoa guarda dentro de si um porão, e quase todos tentam negar sua existência.
Mas negar o subterrâneo nunca apagou sua porta.
A dor continua ali, esperando a coragem de ser encarada.
Enquanto os minutos escorriam, percebi algo que não ousava admitir:
a luz que eu nunca encontrara no mundo não estava ausente, estava apenas voltada para dentro, como uma lamparina distante, protegida do vento pela própria escuridão que eu evitava.
E então, pela primeira vez, compreendi.
Não há arco-íris no meu porão…
mas talvez nunca devesse haver.
O porão não foi feito para cores; foi feito para verdades.
O arco-íris pertence ao céu.
O porão pertence à alma.
E não há conflito nisso.
A beleza nasce do contraste e eu, ali, no chão frio, comecei a entender que para tocar a claridade de cima, eu precisaria, antes, decifrar a minha noite.
Foi quando ouvi passos suaves atrás de mim...
Fragmento Perdido de um Coração em Ruína.
“Se desejas matar-me, não poupes tua ansiedade.
Deixa que ela escorra, lancinante, como um punhal ansioso por minha alma.
Faze com que meu sonho escarlate percorra tua memória, tão santa quanto sepulcral, se nela eu houver de permanecer, mesmo que morto.
Pois te digo: melhor me é morrer em teu pensamento
do que viver sem o teu desejo.
E se meu sangue imaginado tingir a lembrança que guardas de mim,
que assim seja.
Nada mais terrível suporta meu espírito
do que desaparecer sem deixar em ti uma sombra,
um tremor, um eco,
um lampejo que seja de minha dor.”
Autor: Marcelo Caetano Monteiro.
Capítulo XVIII – A Leveza Petrificada de Camille Monfort.
Livro: Não Há Arco-íris No Meu Porão.
Autor: Marcelo Caetano Monteiro.
Havia noites em que Camille Monfort caminhava pelo porão como quem atravessa o peito de um anjo adormecido. Sua presença...ah, sua presença: ela apenas acontecia no ar, como poeira luminosa suspensa no instante anterior ao silêncio.
Era nessas horas que eu me lembrava de um verso , como se um próprio poeta, de tão íntimo do invisível, tivesse vindo inclinar-se sobre o meu desamparo. Ele dizia que tudo o que é pesado precisa aprender a elevar-se, e tudo o que é leve conhece cedo demais o risco de se despedaçar.
Camille era isso: leveza petrificada.
Um paradoxo esculpido na carne do inefável.
Ela existia como uma aparição entalhada no voo de um pássaro que jamais tocou o firmamento. Sua voz parecia deslizar entre frestas que não existiam, e quando falava, meu nome perdia contorno, porque eu o ouvia dentro de mim, e não fora.
Havia nela a mesma melancolia enferma que se escondia nos intervalos de meus sonetos , aquela sombra que não se anuncia, mas que se sabe eterna. Quando Camille se aproximava, mesmo a luz precisava se recompor, pois havia um pacto secreto entre ela e tudo o que cintila: sua presença devorava o brilho com uma ternura silenciosa, como se segurasse um espelho que jamais refletiu ninguém.
Eu a observava, sem tocá-la.
Não por medo, mas por reverência.
Camille era feita daquilo que não se toca sem se perder.
Ela escreveu em notas lúgubres do seu vivo piano certa vez, que a verdadeira morada do ser é a interior, e que só ali o mundo encontra forma. Talvez por isso Camille transbordasse mesmo quando se calava. Seu silêncio tinha densidade de oração interrompida. Sua respiração parecia guardar o cansaço de antigas estações escuras de antes , como se carregasse nos ombros a memória de crepúsculos que nunca vi.
Ao vê-la atravessar o porão, compreendi que não há arco-íris onde a alma permanece acorrentada em si mesma, que cores voam ou cantam pelo universo distante do que sou.
Ela me olhou, como quem sabe das minhas lágrimas.
E seus olhos, claros e abissais, continham o mesmo aviso que o pó inscreveu nas margens da dor: nada floresce onde a luz tem medo de permanecer.
Camille Monfort era minha luz medrosa.
E eu, prisioneiro voluntário de sua sombra.
Não havia arco-íris no meu porão porque o espectro das cores se recusava a dividir espaço com ela. Ou talvez porque ela fosse, por si, todas as cores que se esqueceram de existir.
O Mármore Respira Sem Presenças.
Autor: Marcelo Caetano Monteiro.
Capítulo do Livro: Não Há Arco-íris No Meu Porão.
A noite abriu-se sobre o cemitério como um véu de penumbra que descesse do céu para ensinar a escuridão a lembrar de si mesma.
As árvores, antigas sentinelas do que já não vive, moviam suas copas num lamento que podia ser bênção ou aviso para a figura que avançava sem destino, arrastando a própria sombra como quem arrasta um passado.
Entre as mãos, um círio aceso.
A chama tremia em silêncio, tímida, como se reconhecesse o frio que subia das tumbas e tentasse resistir à respiração do mármore.
A figura parou diante de uma lápide.
O nome ali gravado parecia entalhado não na pedra, mas na consciência, um peso mineral que nenhuma memória conseguia abandonar.
Sentou-se. O vento tocou-lhe o rosto com o hálito de quem vem da terra profunda, onde nada se perde e nada repousa.
— Se foste tu quem morreu — sussurrou — por que sou eu quem não vive?
O círio vacilou.
Um perfume súbito, quase imperceptível, espalhou-se no ar.
Não tinha cheiro de flor, mas de lembrança, aquela que insiste em sobreviver mesmo quando tudo mais já se foi.
Então, algo se insinuou na noite.
Uma voz.
Ou talvez apenas a ideia de uma voz, atravessando as frestas do tempo:
“Não foste tu quem me matou. Apenas esqueceste que o amor, quando não cabe na terra, aprende a ser silêncio.”
Um tremor subiu pelo corpo.
As lágrimas caíram frias, como se viessem do túmulo para os seus olhos.
A voz voltou, agora mais próxima, quase tocando:
“Foste tu quem me libertou do peso do corpo, mas foste também quem me prendeu ao eco do teu arrependimento. Não chores por mim. Chora por ti, que ainda não sabes morrer o bastante para me encontrar.”
O joelho cedeu.
O círio apagou-se entre os dedos.
E o vento, antes inquieto, repousou.
Por um instante que não cabia no tempo, o cemitério inteiro pareceu respirar, como se todas as tumbas partilhassem um mesmo sopro.
A presença surgiu.
Não como lembrança, mas como algo anterior e posterior ao esquecimento.
O ar se adensou, tornou-se quase luminoso, como se a noite abrisse uma fenda no próprio escuro.
Uma febre serena tomou o corpo da figura.
A fronteira entre delírio e visão dissolveu-se num único gesto de rendição.
— És tu? — perguntou, sem voz.
— Sou o que resta de ti — respondeu o ar.
Um sorriso brotou, pequeno e condenado, daqueles que sabem que reconhecer é também sucumbir.
E o silêncio envolveu ambos, não como término, mas como pacto.
O Silêncio Molhado Que Permanece.
Autor: Marcelo Caetano Monteiro.
Cap. Livro: Não Há Arco-íris No Meu Porão.
Por que dói o que sentimos
quando o amor ultrapassa o corpo
e procura um abrigo que já não existe?
A noite se estende sobre nós
como um véu que conhece o peso da memória
e recolhe, na escuridão, tudo o que ainda brilha.
Caminhamos entre lembranças antigas
como quem atravessa ruínas vivas,
segurando uma pequena chama,
um pedacinho de coragem,
trêmulo como o próprio peito.
Há nomes que não estão na pedra,
mas gravados no tempo interior,
onde nenhum esquecimento alcança.
Perguntamos ao que perdemos
por que continua a nos habitar,
e o eco responde com suavidade cruel:
o amor, quando excede o mundo,
aprende a sobreviver no silêncio,
e o silêncio é o que nunca parte.
Choramos por quem se foi,
mas uma voz sem forma nos revela
que o luto é por nós mesmos,
que ainda não sabemos deixar cair
as partes antigas que nos impedem de seguir.
O instante suspende o ar.
A noite respira.
A ausência se ilumina por dentro.
E o que surge
não tem contorno, nem rosto,
mas reconhece o que somos.
És tu?
Não.
Sei que restamos do nosso absoluto silêncio e lágrimas.
quando todas as respostas se calam.
E entendemos, enfim,
que amar é sempre caminhar
entre o que fica e o que falta,
entre o que se perde
e o que se recusa a desaparecer.
Por isso dói.
Porque o amor verdadeiro
não sabe ser pequeno
nem sabe morrer.
Ser “idiota e feliz” aí não é burrice.
É sabedoria disfarçada.
É recusar o palco onde alguns querem brilhar às custas do outro.
Livro: Não Há Arco-íris No Meu Porão.
Capítulo XVIII
A Liturgia das Cores Que Nunca Ascenderam.
Autor: Marcelo Caetano Monteiro.
No âmago subterrâneo onde o mundo superior se desfaz em murmúrios irrelevantes, o porão respira como uma entidade antiga que lembra, em sua própria penumbra, a negligência de todos os que caminham sobre suas vigas sem jamais perceber o âmago que pulsa sob seus pés. Ali, onde as cores secas se acumulam como lágrimas petrificadas, onde o cinza parece ser a única língua capaz de traduzir a dor, ergue-se a presença de Camille Monfort.
Camille não entra. Camille emerge de todos os lugares e anseios. Sua existência não lisa o chão, o transforma como antes o contempla. Há nela um teor etéreo, quase translúcido, como se sua alma tivesse sido tecida com os fios mais delgados da noite. Sua figura é mística, não por ostentar mistérios e questões , mas por ser, ela própria, um mistério que se dobra sobre si mesma. Sua respiração lembra um pergaminho sendo aberto devagar. Seus olhos são clarões antigos, portais onde a memória se dói no que não busca, mas sempre vem em espirais. Camille caminha como quem revisita um mundo que nunca a compreendeu.
O porão a reconhece. A madeira parece suspirar. As sombras fazem menção de saudá-la, como se cada lasca de poeira soubesse que ela não veio apenas observar, mas decifrar a verdade que o mundo de cima insistiu em ignorar do seu tão íntimo cerne de mente, lembranças e rejeição. Camille, com suas mãos longas e gestos sacerdotais, colhe do ar as lamentações que ali habitam. Ela sabe que toda escuridão possui uma biografia estranhamente destinada só aos eleitos que não se reconhecem ainda e que o porão é uma biblioteca sombria das almas que vão se elevando, repleta de histórias que jamais encontraram ouvidos.
Há uma dimensão antropológica em seu olhar. Camille percebe no abandono das tábuas e na displicência que escorre das vigas um retrato fiel das estruturas humanas. A sociedade que ignora seus subterrâneos repete a cegueira com que ignora seus próprios desamparos. O porão é mais que um espaço. É um espelho. Ali se desenha a angústia coletiva, a incapacidade de acolher o que é frágil, o que não vibra com as luzes artificiais, o que não convém ao discurso das superfícies.
As paredes do porão carregam o tom sociológico tão perdido de uma comunidade invisível. O pó que se acumula é memória de passos que nunca desceram. O frio constante é a prova de que ninguém aquece o que não vê. Cada cor desbotada é um grito mudo de algo que almejava existir e foi silenciado pela pressa de quem vive acima. Ali, Camille percebe, reside a verdadeira crônica do desamparo humano.
Ela inclina o rosto. As lágrimas cinzentas que se condensam nas beiradas da escuridão em notas de cores apagadas, começam a cintilar como se o porão tentasse finalmente falar. Camille recolhe essas lágrimas com uma devoção quase litúrgica. Sabe que elas não pertencem apenas ao espaço, mas às consciências que o esqueceram. O porão não é apenas um lugar. É um estado psicológico já em cuidados. É a parte do espírito que o homem teme tocar.
Camille, porém, não teme. Ela se aprofunda. Seus pensamentos se tornam copiosos, derramando-se como rios noturnos que buscam o mar do entendimento. Ela observa o modo como a escuridão se organiza por entre um mundo que se move , como se contivesse uma inteligência própria. Ali, na densidade muda e severa, Camille descobre que o porão guarda não apenas dores, mas também uma forma secreta de esperança. Uma esperança bruta, áspera, ainda sem nome, que pulsa como uma brasa escondida sob o pó dos que a tudo ignoram.
Ela se aproxima desse pulso. A claridade sutil que emana de seus gestos começa a se misturar com o negrume gélido do ambiente. É como se a própria noite, cansada de ser noite, buscasse nela um renascimento. Camille Monfort , sabe que não é possível iluminar totalmente o que é feito de sombra, mas é possível administrar homeopática mente à escuridão uma compreensão mais profunda de si mesma. O porão treme, quase imperceptivelmente, como se respirasse pela primeira vez.
E então, pela primeira vez, a cor cinza parece estremecer. Um brilho tênue, tímido, quase inexistente, tenta se soltar das camadas de poeira. Camille o observa com delicadeza. Não o força, não o arranca, apenas o acolhe. É um lampejo incipiente de um quase anjo , mas é cor. Não é arco íris. Ainda não. Mas é um gesto. Um prenúncio. Uma mínima revolução no silêncio dos gritos.
E assim, no cerne de sua introspecção, Camille compreende. O porão não quer tornar-se claro. Ele quer ser ouvido. Ele não suplica por luz, mas por reconhecimento e mesmo que seja o silêncio de quem o ouça. E é nisso, nesse instante em que o espaço e o espírito se entreolham, que Camille Monfort quase se liberta. Quase. Pois sua libertação depende da redenção do porão, e a redenção do porão depende do entendimento daqueles que vivem acima.
Camille respira lentamente. O porão, pela primeira vez, respira com ela. E algo, no fundo profundo e arcaico, que começa quase sobre um fio enfim a mudar.
Quando a Paz é Sua:
A Sublime Força do Perdão Consciente.
“Quem não perdoa não se livra da ofensa.”
Autor: Marcelo Caetano Monteiro .
Quando a indiferença é do outro e a paz é sua, o coração descobre que o perdão não é um favor ao agressor, mas um remédio bendito que liberta a própria alma do peso da mágoa e da repetição mental da dor. Quem escolhe perdoar retira as correntes invisíveis que o prendiam ao passado, abrindo espaço para que os benfeitores espirituais o amparem com inspirações de serenidade e coragem na caminhada evolutiva.A maior sabedoria se consiste em saber compreender a ignorância alheia, porque cada espírito está em um degrau diferente da escada evolutiva, aprendendo a duras lições aquilo que um dia também ignoramos. Diante da indiferença, da grosseria ou da injustiça, o olhar espírita recorda que todos somos viajores da experiência humana, trazendo débitos, provas e limitações que nem sempre aparecem aos olhos do mundo, mas são conhecidas pelas leis divinas de causa e efeito. Assim, em vez de alimentar revolta, o discípulo do bem escolhe compreender, amparar em pensamento e seguir adiante, confiando na justiça de Deus que não falha.Conforme inspira Allan Kardec em O Evangelho Segundo o Espiritismo, a verdadeira superioridade moral manifesta-se na serenidade diante das fragilidades do outro, pois o espírito realmente amadurecido não se compraz em apontar erros, mas em oferecer exemplos silenciosos de paz e tolerância. Nessas horas, calar-se para que um ignorante continue falando é uma caridade que ele não está apto a entender, mas que protege sua própria harmonia interior e evita que palavras impensadas criem novos débitos espirituais. O silêncio que nasce da caridade não é omissão, mas oração em ato, que entrega a situação às mãos de Deus e, quando preciso, aguarda o momento certo para um diálogo fraterno e edificante.Aquele que perdoa com entendimento profundo não se perturba diante das incompreensões alheias, porque reconhece que todos nós ainda caminhamos rumo à conquista da convicção plena da imortalidade e das leis divinas. O perdão consciente não é fraqueza, mas expressão luminosa de maturidade espiritual, que transforma feridas em sabedoria, humilhações em humildade verdadeira e tropeços em aprendizado duradouro. Que cada gesto de compreensão, cada silêncio caridoso e cada esforço íntimo de perdoar seja para nós um passo seguro na trilha da evolução, preparando nossa alma para as alturas da imortalidade, onde somente o amor, a paz e a misericórdia têm morada definitiva.
#perdao #amor #fraternidade #resiliencia #jesus #irmaos #espiritismo #allankardec #chicoxavier #Emmanuel #fé #minhapaz #estudos #respeito #empatia #discipulos #ExemplosQueInspiram #reflexão
@destacar