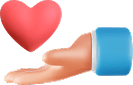Coleção pessoal de marcelo_monteiro_4
O ESVAZIAMENTO DOS CENTROS ESPÍRITAS E A RESPONSABILIDADE MORAL DOS QUE CONDUZEM A SEARA.
O movimento espírita atravessa um fenômeno silencioso e grave. A evasão contínua de trabalhadores, frequentadores assíduos e até de antigos dirigentes não ocorre por acaso nem pode ser atribuída unicamente às dificuldades do mundo moderno. Há causas internas profundas que precisam ser analisadas com lucidez doutrinária, honestidade moral e fidelidade ao Espiritismo como ele é, e não como alguns desejam que seja.
Muitos irmãos laboriosos que sustentaram por décadas tarefas humildes e essenciais nos Centros Espíritas retornaram à espiritualidade maior, após cumprirem missões extenuantes e discretas. Outros, contudo, afastaram-se ainda encarnados. Não por rebeldia. Não por indisciplina moral. Mas por feridas íntimas causadas por maus tratos sutis, vaidades disfarçadas, autoritarismos fraternalmente maquiados e pelo abandono progressivo do ideal espírita em favor de personalismos.
Allan Kardec advertiu com clareza em O Livro dos Médiuns que o Espiritismo não sobreviveria se fosse entregue ao orgulho, à ignorância e ao desejo de domínio. Ensinou que a autoridade moral nasce da coerência entre o que se ensina e o que se vive. Quando dirigentes se afastam dessa coerência, instauram um escândalo silencioso que não aparece em atas nem em estatísticas, mas se manifesta na ausência progressiva dos que não compactuam com o desvio.
Léon Denis aprofundou essa reflexão ao afirmar que o Espiritismo é antes de tudo uma filosofia moral regeneradora. Onde não há elevação ética, não há Espiritismo. Há apenas discurso vazio. Centros que se transformam em palcos de vaidade intelectual ou em vitrines de prestígio pessoal deixam de ser casas de socorro espiritual e passam a ser instituições ocas. Denis foi categórico ao afirmar que a Doutrina perece quando seus representantes traem o espírito que a anima.
Joanna de Ângelis, pela psicografia de Divaldo Franco, esclarece que a evasão espiritual muitas vezes é consequência da incoerência psicológica dos líderes. O discurso fala de amor, mas a prática revela frieza, sejamos honestos. Fala se de humildade, mas exerce-se o controle. Fala-se de fraternidade, mas promove-se a exclusão sutil dos que pensam diferente. A psique humana não suporta por muito tempo essa dissonância. O indivíduo afasta-se para preservar a própria saúde emocional e espiritual, antes que o orgulho atacado.
Emmanuel foi ainda mais severo. Alertou que o trabalhador espírita que se vale da Doutrina para impor-se e disfarçadamente, dominar consciências ou alimentar o próprio ego responde por débitos morais graves. A Casa Espírita não pertence aos encarnados. É patrimônio do Cristo. Quando se personaliza, humaniza, o movimento, quando se transforma a instituição em extensão do temperamento ou das conveniências de alguns, instala-se uma forma de traição silenciosa ao Evangelho.
Raul Teixeira tem sido incisivo ao denunciar a superficialização do ensino espírita. Segundo ele, muitos Centros substituíram o estudo sério pela palestra motivacional rasa. Aqui é fundamental fazer uma distinção clara e inadiável.
Palestra é exposição retórica, muitas vezes emocional, centrada no orador, em exemplos pessoais ou em mensagens genéricas de conforto. Exposição espírita, por outro lado, é ensino doutrinário estruturado, fundamentado nas obras básicas, no Evangelho e na razão. A exposição não visa aplauso. Visa esclarecimento. Não busca agradar. Busca despertar consciências.
Quando a Casa Espírita e ou o orador, abandona a exposição doutrinária e passa a viver apenas de palestras repetitivas, desconectadas do estudo sistematizado, ela enfraquece o intelecto moral do frequentador. O indivíduo não encontra respostas profundas. Essa manobra passa por alguns, mas não por todos, por isso logo ao mais lúcido da platéia ruirá. Não encontra base racional para a dor. Não encontra coerência entre fé e razão. E, pouco a pouco, afasta-se.
Há ainda a questão do compromisso moral dos que estão à frente. Dirigir um Centro Espírita não é ocupar um cargo. É assumir uma responsabilidade espiritual grave com encarnados e desencarnados, não se iluda que poderá se dar ao luxo pelo menos uma uma vez fazer assim ou assado. O Senhor da vinha enviará os que estão a seu mando, e se caso o for tardar ele próprio virá. Kardec jamais tratou a liderança espírita como privilégio. Sempre a apresentou como serviço e sacrifício. Quando dirigentes não estudam, não se renovam, não se auto examinam e não aceitam correção fraterna, tornam-se obstáculos ao progresso da Casa.
A evasão atual é também um grito silencioso dos que não suportam mais a hipocrisia institucionalizada, a rigidez sem amor, a disciplina sem misericórdia e o discurso elevado sem vivência correspondente. Não se trata de atacar pessoas, mas de denunciar posturas que adoecem o movimento.
O Espiritismo não precisa de animadores de plateia. Precisa de educadores da alma. Não precisa de líderes carismáticos. Precisa de servidores coerentes. Não precisa de discursos longos e vazios. Precisa de exemplos silenciosos e constantes.
Se os Centros Espíritas desejam sobreviver espiritualmente, precisarão retornar às fontes com seriedade de realizações humildes no Estudo sério de O Livro dos Espíritos, O Evangelho Segundo o Espiritismo, O Livro dos Médiuns. Formação moral contínua dos dirigentes. Humildade institucional. Escuta real dos que frequentadores diretos ou indiretos, afinal existe uma Comissão, ouvir os que sofrem e não lhes entreterem com palestras que em seu cerne não são palestras e nem são eficazes. E, acima de tudo, fidelidade ao Cristo, não apenas nas palavras, mas nas decisões difíceis do cotidiano.
Quando o Espiritismo volta a ser vivido e não apenas falado, os que se afastaram começam a retornar. Não por convite formal, mas porque a verdade moral sempre reencontra os que a buscam. E somente assim o movimento espírita deixará de perder almas cansadas e voltará a ser, como sempre foi chamado a ser, escola de consciência, hospital da alma e oficina viva do Evangelho em ação.
A OMISSÃO DA LIDERANÇA E O SILÊNCIO QUE TRAI O BANQUETE ESPIRITUAL.
Quando o presidente ou dirigente de um Centro Espírita não é convidativo, não é motivacional e não se mantém inteirado dos acontecimentos promovidos por outras Casas, algo essencial já se rompeu. Rompeu-se o vínculo fraterno que sustenta o movimento. Rompeu-se a noção de corpo espiritual em trabalho conjunto. Rompeu-se, sobretudo, o entendimento de que o Espiritismo não se constrói no isolamento institucional, mas na comunhão de esforços em torno do Cristo.
Centros Espíritas não são ilhas. São células vivas de um mesmo organismo moral. Quando dirigentes ignoram o demonstram querer só para si, como se fossem imprescindíveis encontros, seminários, jornadas e iniciativas de outras Casas, onde antigos e novos irmãos se reencontram para laborar em comum, eles empobrecem a própria instituição que julgam proteger. Allan Kardec já advertia que o Espiritismo progride pela união dos seus adeptos e pela troca constante de experiências, jamais pela autossuficiência orgulhosa ou pelo fechamento disfarçado de prudência.
Há dirigentes que chegam atrasados para às atividades marcadas entre eles, saem apressados ao final e deixam aos demais irmãos a responsabilidade pelos momentos derradeiros da tarefa. Essa pressa não é apenas física. É espiritual. Revela distanciamento do ideal, cansaço moral e, em muitos casos, indiferença silenciosa. Pouco fazem pelo Centro que dirigem e menos ainda fazem pelos locais aonde afirmam ir em nome de Jesus. O nome do Cristo, porém, não legitima a negligência nem absolve a omissão.
Léon Denis ensinou que servir à causa espírita exige presença integral. Corpo, mente e consciência. Quem lidera sem participar ou isulflar o bom ideal plenamente não conduz. Apenas ocupa espaço. A liderança espírita não se mede pelo cargo, mas pela capacidade de inspirar, reunir, incentivar e caminhar junto. Onde falta esse espírito, a Casa esfria, os trabalhadores se dispersam e o ideal se dilui.
O verdadeiro ideal espírita ensina que muitos que possuem pouco podem, com esse pouco, realizar algo de imenso valor moral junto aos que, naquele momento, possuem mais recursos, mais tempo ou mais condições. O Cristo nunca exigiu abundância material para servir. Exigiu disponibilidade íntima. Contudo, o que se observa é o oposto. Espera-se que alguns se sacrifiquem em excesso, enquanto outros se-eximem sob o discurso de compromissos pessoais ou espirituais.
No Espiritismo não existem mártires fabricados. Ninguém é chamado a ir a pé, de bicicleta ou correndo atrás de um ônibus para provar fidelidade doutrinária. Esse tipo de sacrifício teatral não pertence à lógica espírita. Emmanuel foi claro ao afirmar que o sacrifício verdadeiro é silencioso, lúcido e organizado. O improviso constante, a falta de planejamento e o apelo ao heroísmo vazio apenas mascaram a ausência de logística e de responsabilidade institucional.
Falta logística. Falta preparo prévio. Falta organização que anteceda aquilo que aprendemos a chamar de Banquete Espiritual. Um banquete não se improvisa. Exige cuidado, divisão justa de tarefas, atenção aos convidados e, sobretudo, respeito pelo alimento que será servido. Quando poucos assumem tudo, enquanto outros apenas consomem, instala-se uma deformação grave do ideal.
Aqui surge a imagem incômoda do glutão à mesa. Aquele que se serve em excesso da visibilidade, da palavra, do prestígio e do reconhecimento, mas contribui pouco com o trabalho real. Esses, muitas vezes, se autodenominam palestrantes. Porém, jamais compreenderam que, no Espiritismo, não há palestrantes no sentido comum. Há expositores.
Raul Teixeira esclarece que o expositor espírita não fala em nome próprio. Ele se apaga para que a mensagem apareça. Ele estuda, vive e se disciplina antes de subir à tribuna. Não busca aplauso. Busca fidelidade ao conteúdo. O expositor não é artista da palavra, mas servidor da verdade. Quando alguém fala sem compromisso com o estudo, com a vivência moral e com o objetivo educativo da mensagem, ele não expõe o Espiritismo. Ele o exemplifica em sua oratória ou exposição doutrinária.
Joanna de Ângelis aprofunda essa análise ao demonstrar que a omissão das lideranças e a vaidade dos expositores produzem desencanto psicológico coletivo. O frequentador percebe quando a fala não corresponde à vida. Quando a Casa prega fraternidade, mas não promove encontros. Quando fala de união, mas ignora o movimento maior. Esse desencontro gera afastamento emocional e, por fim, evasão silenciosa.
O Cristo não precisa de oradores eloquentes. Precisa de consciências responsáveis. Não precisa de dirigentes ausentes, mas presentes na cobrança ante outros.Precisa de servidores presentes. Não precisa de discursos inflamados. Precisa de exemplos organizados.
A presidência espírita não é honra. É encargo. A tribuna espírita não é palco. É altar de serviço humilde recebendo por isso o beneplácito da suave luz da própria mensagem qual se tornara em momento alto-falante vivo dos imortais. E o Banquete Espiritual não é consumo egoísta. É partilha justa do pão da verdade.
Quando a liderança compreender isso, o movimento deixará de perder irmãos cansados e voltará a reunir trabalhadores conscientes, pois somente onde há compromisso real com o Cristo o Espiritismo permanece vivo, digno e transformador.
Autor: Marcelo Caetano Monteiro .
" Permitir que o pensamento caminhe sem meta. Como quem senta ao fim da tarde e observa o tempo repousar dentro de si. "
"DESEJO DE SUMIR. ESSA VONTADE CANSADA DE TODOS OS DIAS."
"Eles não verão nem ouvirão meus segredos bobos."
Ninguém acorda para mais um dia. Apenas se põe de pé dentro dele, como quem aceita um fardo antigo sem discutir. Não sabemos quem passa por quem. Se somos nós que cruzamos as vidas ou se são elas que nos atravessam, deixando resíduos invisíveis que se acumulam até o cansaço.
O desejo de sumir não nasce do espetáculo. Nasce da repetição. Da fadiga de existir todos os dias sem interrupção. Não é morte o que se quer. É intervalo. É silêncio prolongado. É não precisar sustentar o peso de si mesmo por algumas horas que nunca vêm.
No silêncio inaugural o deserto não boceja. Ele estremece. As notas de piano não caem. Elas sangram num tempo lento, espesso, difícil de atravessar. O contrabaixo pesa como um peito saturado de dias iguais, marcando o passo de quem caminha não porque acredita, mas porque ainda não caiu. O sol não nasce. Ele apenas tolera o mundo. A esperança não é linha no horizonte. É cicatriz que insiste em não fechar.
A melodia cresce como cresce o trauma cotidiano que ninguém percebe. As teclas pretas e brancas não dançam. Elas se enfrentam. O drama não se costura. Ele se rasga em acordes de tensão contínua. Não há repouso nas pausas. A pausa ameaça revelar o vazio. A poeira guarda a história como quem guarda um segredo vergonhoso. O herói e o vilão dividem o mesmo corpo cansado. Ambos querem sumir. Um chama isso de covardia. O outro chama de descanso.
Seguimos de pé por entre o dia. Não o dominamos. O dia nos atravessa com suas exigências mudas. Cada encontro é um choque entre cansaços que não se confessam. Cada rosto esconde um pedido de trégua. Não sabemos quem carrega quem. Apenas seguimos, tropeçando em nós mesmos.
A cadência final não consola. Ela esgota. O último grave não vibra. Ele cai. O movimento não se transforma em silêncio. Transforma-se em suspensão. Não é morte. Não é alívio pleno. É a permanência de uma vontade que não se resolve. A música termina onde a dor aprende a morar sem escândalo. O Oeste adormece porque até o vento se cansa de insistir.
E ainda assim alguém se levanta amanhã. Não por esperança exuberante. Mas porque permanecer, mesmo desejando sumir, é um gesto severo de lucidez. E seguir, cansado e consciente, é a forma mais silenciosa e profunda de coragem.
PRINCESA DA NOITE E O TRÂNSITO DO INAUDÍVEL.
Há uma noite que não começa no escuro.
Ela principia no primeiro intervalo entre dois sons.
Antes do acorde existir.
Antes da mão tocar a matéria do mundo.
Essa noite caminha em passos regulares.
Não corre.
Não implora.
Ela avança como quem conhece o destino e mesmo assim aceita cada desvio.
Seu pulso é constante como a respiração antiga da terra.
Seu coração repete arpejos como quem recorda uma memória que nunca foi esquecida.
Surge então a Princesa.
Não coroada por ouro.
Mas pelo silêncio que antecede cada nota.
Ela não reina pelo poder.
Reina pela permanência.
Tudo passa ao redor.
Ela permanece.
Seu vestido é tecido de sombras móveis.
Cada dobra nasce de um grave profundo que sustenta o mundo sem pedir reconhecimento.
Os sons baixos são colunas invisíveis.
São raízes que se enterram no tempo para que o céu não desabe.
A melodia não se impõe.
Ela se inclina.
Desenha curvas como quem respeita a dor do existir.
Há doçura em sua ascensão.
Mas nenhuma ingenuidade.
Toda nota sabe que cairá.
E mesmo assim sobe.
Quando a linha melódica se eleva.
Não é fuga.
É coragem.
É o espírito ousando olhar acima da própria noite.
Mas logo retorna.
Porque sabe que a verdade não mora no excesso.
Mora no equilíbrio entre desejo e limite.
O tempo não se rompe.
Ele se alonga.
Cada compasso é um passo dado com reverência.
Como antigos peregrinos que sabiam que chegar rápido era perder o sentido.
Há um momento em que a música suspira.
Não por cansaço.
Mas por compreensão.
Ali o som aprende que não precisa provar nada.
Apenas ser.
Os arpejos continuam.
Pacientes.
Persistentes.
São como estrelas repetindo o mesmo gesto há milênios.
Nunca cansadas.
Nunca apressadas.
E quando a intensidade cresce.
Não se torna violência.
Torna-se densidade.
A noite se adensa.
A Princesa caminha mais alta.
Mas não mais distante.
Ela conduz o ouvinte para dentro.
Não para fora.
Porque toda verdadeira epopeia não é conquista de terras.
É travessia da alma.
No trecho final não há triunfo ruidoso.
Há aceitação elevada.
O som repousa como quem cumpriu sua tarefa eterna.
Nada foi perdido.
Nada foi ganho em excesso.
A noite fecha os olhos.
A Princesa permanece de pé.
Guardando o que não pode ser dito.
Sustentando o mundo com a delicadeza de quem conhece o peso do silêncio.
E quando o último som se dissolve.
Não é fim.
É retorno ao invisível.
Pois a verdadeira música não termina.
Ela continua onde o ouvido já não alcança.
TÍTULO
A JUSTIÇA DIVINA E A LIBERDADE DO ESPÍRITO
ARTIGO
O Espiritismo, em sua expressão mais depurada, não se apresenta como sistema de temor, mas como pedagogia moral da consciência. A Doutrina não constrói um Deus punitivo, arbitrário ou vingativo. Revela um princípio soberanamente justo e bom, cuja ação se manifesta pelo respeito absoluto à liberdade espiritual e pela finalidade educativa das experiências humanas.
Deus não condena suas criaturas a castigos perpétuos por erros transitórios. Tal concepção violaria a própria ideia de justiça, pois nenhuma falta limitada no tempo poderia justificar uma pena infinita. O erro, no entendimento espírita, é sempre circunstancial e próprio de um Espírito ainda imperfeito, jamais definitivo ou essencial à sua natureza. Por isso, a Lei Divina oferece, a qualquer tempo, meios de progresso, reparação e reequilíbrio moral.
O arrependimento não surge como mero sentimento de culpa, mas como lucidez ética. Reparar não é sofrer por sofrer, mas agir em favor do bem, restabelecendo a harmonia rompida. A justiça divina não se impõe de fora para dentro. Ela opera no íntimo da consciência, onde cada Espírito experimenta as consequências naturais de suas escolhas. Persistir voluntariamente no caminho do mal converte-se, por si mesmo, em sofrimento, pois ninguém viola a ordem moral sem ferir a própria estrutura psíquica e espiritual.
A chamada pena eterna, à luz do Espiritismo, não é um decreto imutável, mas uma permanência voluntária no erro. Se o Espírito ali permanecesse indefinidamente, a dor também se prolongaria. Contudo, a mínima disposição ao arrependimento basta para que a misericórdia divina se manifeste, oferecendo novas oportunidades de aprendizado e reabilitação. Eis a relatividade das penas e da própria noção de eternidade, compreendida não como duração infinita do sofrimento, mas como continuidade da vida orientada ao aperfeiçoamento.
A liberdade concedida aos Espíritos é condição indispensável para o mérito moral. Se não houvesse possibilidade de escolha, não haveria responsabilidade, nem virtude autêntica. Deus permite que o Espírito experimente o bem e o mal para que aprenda, pela razão e pela vivência, a distinguir o que eleva daquilo que degrada. A sabedoria divina não se impõe pela coerção, mas pela educação gradual da consciência.
O primeiro ensinamento é o amor. O segundo é a instrução. Amar sem compreender conduz ao fanatismo. Instruir sem amar conduz à aridez moral. O Espiritismo une ambos, chamando o ser humano a uma ética da responsabilidade, da lucidez e da esperança ativa.
Assim, a mensagem espírita não promete atalhos, nem absolvições automáticas. Ela convoca o Espírito à dignidade de construir-se, passo a passo, na liberdade, assumindo o peso de seus atos e a grandeza de sua capacidade de transformação, pois toda consciência que se esclarece encontra no bem não uma imposição, mas um destino escolhido com maturidade e verdade.
COVARDIA.
"Negar o reconhecimento de quem já nasceu sabendo constitui uma das formas mais profundas de covardia contra a própria consciência."
O PESO DE SUMIR.
Sumir não é desaparecer do mundo. É retirar-se do excesso. É calar onde o ruído se tornou moralmente insuportável. É um desejo que não nasce da covardia, mas do cansaço antigo de existir sem abrigo. Há quem deseje sumir não para morrer, mas para finalmente respirar fora da vigilância alheia.
Na vida a dois, o desejo de sumir assume outra densidade. Não se trata apenas de fugir de si, mas de ausentar-se do olhar que cobra constância, presença contínua, resposta imediata. Amar também cansa quando o amor é vivido como obrigação de permanência absoluta. O convívio diário pode transformar-se em tribunal silencioso onde cada gesto é julgado e cada silêncio interpretado como culpa.
Sumir, então, passa a ser um pensamento recorrente. Não como traição, mas como defesa. Um recolhimento íntimo onde a alma tenta reorganizar-se longe das expectativas. Há amores que não percebem quando o outro precisa recolher-se para não quebrar-se. E há silêncios que não são abandono, mas súplica por compreensão.
O peso de sumir é carregar a ambiguidade de querer ficar e, ao mesmo tempo, desejar não ser visto. É amar e sentir-se exausto. É desejar o colo e, simultaneamente, a solidão. Na vida a dois, esse peso se agrava porque o sumiço nunca é neutro. Ele sempre fere alguém, mesmo quando é necessário.
Entretanto, ignorar esse desejo é mais perigoso. Quem nunca pode sumir um pouco acaba desaparecendo por dentro. O afastamento consciente pode ser mais honesto que a presença vazia. Às vezes, amar exige a coragem de permitir que o outro se recolha, sem transformá-lo em réu, sem exigir explicações que nem ele mesmo possui.
Desejar sumir não é negar o amor. É tentar salvá-lo do desgaste. É compreender que a vida a dois só permanece digna quando respeita os intervalos da alma. Permanecer não é estar sempre. Permanecer é voltar inteiro.
E somente quem aceita o peso de sumir com lucidez descobre que o verdadeiro compromisso não é com a presença constante, mas com a verdade silenciosa que sustenta o vínculo mesmo quando o mundo exige máscaras.
O Filho Pródigo é talvez a mais conhecida das parábolas de Jesus, apesar de aparecer apenas em um dos evangelhos canônicos. De acordo com Lucas 15:11–32, a um filho mais novo é dada a sua herança. Depois de perder sua fortuna (a palavra "pródigo" significa "desperdiçador", "extravagante"), o filho volta para casa e se arrepende. Esta parábola é a terceira e a última de uma trilogia sobre a redenção, vindo após a Parábola da Ovelha Perdida e a Parábola da Moeda Perdida.
Esta é a última das três parábolas sobre perda e redenção, na sequência da Parábola da Ovelha Perdida e da Parábola da Moeda Perdida, que Jesus conta após os fariseus e líderes religiosos o terem acusado de receber e compartilhar as suas refeições com "pecadores".[1] A alegria do pai descrita na parábola reflete o amor divino,[1] a "misericórdia infinita de Deus"[2] e "recusa de Deus em limitar a sua graça".[1]
O pedido do filho mais novo de sua parte da herança é "ousado e insolente"[3] e "equivale a querer que o pai estivesse morto".[3] Suas ações não levam ao sucesso e ele finalmente se torna um trabalhador por contrato, com a degradante tarefa (para um judeu) de cuidar de porcos, chegando ao ponto de invejá-los por comerem vagens de alfarroba.[3] Em seu retorno, o pai trata-o com uma generosidade muito maior do que ele teria o direito de esperar.[3]
O filho mais velho, ao contrário, parece pensar em termos de "direito, mérito e recompensa"[3] ao invés de "amor e benevolência".[3] Ele pode representar os fariseus que estavam criticando Jesus.
CAPÍTULO I
APRENDER A FECHAR AS PORTAS DA ALMA.
Filtrar os acontecimentos não é negar o mundo. É restabelecer hierarquia interior. O que tudo invade é porque tudo recebeu o mesmo peso. A alma, quando não seleciona, adoece por excesso de realidade.
O primeiro filtro é o discernimento do que merece permanência. Nem tudo que acontece fora exige hospedagem interior. Há fatos que devem ser reconhecidos e depois deixados seguir. A tradição sempre ensinou que a sabedoria começa quando se aprende a distinguir o essencial do ruidoso.
O segundo filtro é o ritmo. A vida moderna impõe simultaneidade. Antigamente, as dores vinham uma a uma. Hoje chegam em bloco. Recuperar o ritmo humano é reduzir a exposição. Escolher quando ouvir. Quando ler. Quando silenciar. O excesso de informação desorganiza a sensibilidade e dissolve as defesas naturais do espírito.
O terceiro filtro é o recolhimento consciente. Não se trata de fugir do mundo, mas de retornar a si. Momentos de solidão escolhida restauram limites internos. A interioridade sempre foi o lugar onde o ser humano reorganiza o sentido antes de voltar ao convívio.
O quarto filtro é a linguagem interior. Aquilo que não se consegue nomear tende a invadir de forma difusa. Dar nome ao que afeta é conter. Pensar é organizar. Escrever é delimitar. O que ganha forma perde poder invasivo.
Por fim, há o filtro ético. Nem toda dor alheia é incumbência pessoal. A compaixão verdadeira não se confunde com absorção. Ajudar não é carregar. É sustentar sem se perder.
Filtrar os acontecimentos é um exercício antigo. Sempre foi assim. O mundo nunca foi leve. Leve precisa ser o olhar que aprende a escolher o que entra. Porque quem não fecha as portas da alma acaba transformando a própria sensibilidade em campo de batalha.
Eis exemplos claros, ancorados na experiência humana tradicional, sem romantização do excesso moderno.
ANTIGAMENTE, AS DORES VINHAM UMA A UMA. HOJE CHEGAM EM BLOCO.
Antigamente, a dor tinha rosto e tempo. Um luto era vivido até o fim antes que outro começasse. A escassez de notícias fazia com que o sofrimento fosse localizado. Morria alguém da aldeia. Havia o velório. O silêncio. O luto compartilhado. Depois, a vida retomava seu compasso. A dor era profunda, mas circunscrita.
Hoje, em um único dia, o indivíduo é exposto a uma tragédia distante pela manhã, a uma violência simbólica ao meio dia, a um conflito social à tarde, a uma crise econômica à noite e a uma dor íntima antes de dormir. Nada se encerra. Tudo permanece aberto. O espírito não encontra fechamento.
Antes, o sofrimento vinha pela experiência direta. Hoje vem pela exposição contínua. Não é vivido. É absorvido.
RECUPERAR O RITMO HUMANO É REDUZIR A EXPOSIÇÃO.
Escolher quando ouvir. Antigamente, escutava se quando alguém batia à porta ou quando a comunidade se reunia. Hoje, escuta se o tempo todo, mesmo sem consentimento. Recuperar o ritmo é desligar o fluxo. Não atender a todas as vozes. Não se sentir moralmente obrigado a reagir a tudo.
Escolher quando ler. A leitura era um ato deliberado. Um livro. Um texto. Um tempo reservado. Hoje, lê se fragmentos incessantes. Manchetes. Opiniões. Julgamentos. Reduzir a exposição é resgatar a leitura lenta e profunda e recusar o consumo contínuo de conteúdo que apenas excita a angústia.
Escolher quando silenciar. O silêncio era parte da vida cotidiana. Caminhadas. Noites sem estímulo. Trabalho manual. Hoje, o silêncio causa desconforto porque revela o cansaço oculto. Recuperar o ritmo humano é reaprender a ficar sem ruído, sem resposta imediata, sem explicação.
O TERCEIRO FILTRO. O RECOLHIMENTO CONSCIENTE.
Antigamente, o recolhimento era natural. A noite encerrava o dia. O inverno recolhia a vida. A velhice diminuía o ritmo. Hoje, recolher se é visto como fraqueza ou improdutividade.
O recolhimento consciente é escolher sair de circulação por um tempo. Não responder imediatamente. Não opinar sobre tudo. Não se expor quando o interior pede abrigo. É a pausa deliberada que impede o colapso silencioso.
Exemplo concreto. A pessoa que sente o mundo invadir não precisa explicar se. Ela precisa se recolher. Caminhar sem destino. Escrever sem publicar. Pensar sem compartilhar. Orar sem espetáculo. Esse recolhimento não é fuga. É higiene da alma.
Porque o espírito humano nunca foi feito para carregar o mundo inteiro ao mesmo tempo. Ele precisa de intervalo. De fronteira. De retorno ao seu ritmo ancestral. E quando esse ritmo é respeitado, as defesas naturais voltam a existir.
O RITMO QUE ESTA NA VIDA.
Livro: Desejo De Sumir.
Autor: Marcelo Caetano Monteiro .
CAPÍTULO II
Quando esse ritmo é respeitado, as defesas naturais voltam a existir porque elas nunca foram destruídas. Apenas foram abafadas pelo excesso.
As defesas naturais do espírito são antigas. Silenciosas. Elegantes. Não gritam. Não endurecem. Elas operam por seleção. Por limite. Por medida. São a capacidade de sentir sem se diluir. De perceber sem absorver. De acolher sem se confundir com aquilo que vem de fora.
Uma dessas defesas é o discernimento espontâneo. Quando o ritmo interior está preservado, a alma reconhece instintivamente o que lhe pertence e o que não lhe cabe carregar. O sofrimento alheio é visto com respeito, mas não se transforma em peso pessoal. A injustiça é percebida, mas não corrói por dentro. O mundo volta a ser observado com lucidez, não suportado com exaustão.
Outra defesa é a estabilidade emocional profunda. Não se trata de indiferença, mas de eixo. O indivíduo já não reage a cada estímulo. Ele responde quando necessário. O que antes invadia agora apenas passa. Há uma serenidade que não depende das circunstâncias, mas da ordem interna restabelecida.
Há também a defesa do silêncio interior. Quando o ritmo humano é respeitado, o pensamento desacelera e a mente deixa de ruminar o que não pode resolver. O silêncio volta a proteger. Ele impede a contaminação psíquica constante. Dá repouso às emoções. Permite que a consciência respire.
Surge ainda a defesa do tempo. O espírito passa a confiar nos processos lentos. Não exige resolução imediata para tudo. Aceita a maturação. Compreende que nem toda dor pede resposta. Algumas pedem apenas passagem. Outras pedem espera.
E há a mais nobre das defesas naturais. A dignidade interior. Aquela que impede o indivíduo de se violentar para caber em um mundo adoecido. Quando o ritmo ancestral é retomado, a alma se recusa a viver contra si mesma. Ela se preserva sem agressividade. Se afasta sem culpa. Retorna quando está inteira.
Essas defesas não são aprendidas. São lembradas. Sempre estiveram ali, aguardando o momento em que o ser humano ousasse desacelerar e voltar a viver como sempre viveu. Com medida. Com profundidade. Com verdade.
Mateus 13:14 - INVERSÃO DE VALORES.
A CEGUEIRA MORAL COMO SINTOMA DE UMA ERA DESORIENTADA.
A mensagem contida em Mateus 13:14, expressa uma diagnose espiritual de elevada gravidade ética. Ela descreve não um desvio episódico de costumes mas uma erosão profunda dos critérios que sustentam o juízo moral coletivo. A chamada inversão de valores constitui um processo de entorpecimento da consciência no qual o discernimento é gradualmente substituído pela conveniência e pela complacência afetiva.
Quando o texto evangélico afirma que muitos escutam sem assimilar e observam sem compreender ele aponta para um fenômeno de opacidade interior. A inteligência permanece ativa. A sensibilidade espiritual porém encontra-se embotada. O indivíduo passa a filtrar a realidade não segundo a verdade mas segundo o que lhe é confortável. Essa disposição gera uma anestesia ética na qual o erro deixa de provocar inquietação e o bem passa a ser percebido como incômodo.
A passagem de Mateus 13:14 descreve um fechamento voluntário da percepção moral. Não se trata de incapacidade cognitiva mas de recusa deliberada ao chamado interior. O sujeito preserva os sentidos físicos mas abdica da escuta profunda e da visão penetrante. Forma-se assim uma consciência seletiva que legitima desejos e invalida princípios. Nesse estado o certo parece excessivo e o errado parece justificável.
Em Mateus 18:7 a advertência assume uma dimensão estrutural. Os escândalos emergem como subprodutos de ambientes morais degradados. Eles não surgem por acaso. Eles florescem onde há permissividade normativa e diluição da responsabilidade pessoal. O texto não absolve o contexto. Ele responsabiliza o agente. O escândalo não é apenas um fato social. Ele é uma falha ética personificada.
Sob uma ótica tradicional essa degeneração revela o abandono de parâmetros objetivos de verdade. Quando a retidão passa a ser relativizada e a transgressão passa a ser celebrada instala-se uma confusão axiológica que compromete a formação do caráter. A pedagogia perde autoridade. A disciplina é confundida com opressão. E a liberdade é reduzida a impulso.
Essa desordem não permanece restrita ao plano individual. Ela infiltra-se nas instituições. Contamina o discurso público. E normaliza práticas que antes seriam moralmente reprováveis. O escândalo deixa de causar repulsa. Ele passa a ser assimilado como expressão cultural. O alerta ético passa a ser tratado como intolerância. E a tradição passa a ser caricaturada como atraso.
A mensagem portanto atua como um espelho severo aos desatentos. Ela recorda que toda sociedade que rompe com sua herança moral perde progressivamente a capacidade de orientar seus membros. A tradição não é um apego nostálgico ao passado. Ela é a sedimentação de experiências humanas que preservaram a ordem interior e a dignidade ao longo do tempo. Quando essa memória é descartada o homem permanece entregue às próprias pulsões sem norte e sem medida.
Uma civilização que confunde indulgência com virtude e rigor com maldade não caminha para o progresso mas para a dissolução silenciosa de sua própria base de diretriz.
CÂNTICO DA DELICADEZA REAPRENDIDA.
O amor nos dias atuais precisa reaprender a linguagem da mansidão.
Ele nasce cansado de excessos e reencontra sua força no gesto contido.
Não se anuncia com estrondo nem se impõe como urgência mas aproxima se com respeito como quem reconhece o valor do outro antes do próprio desejo.
Nesse movimento inicial o afeto resgata a ética do cuidado e transforma a palavra em abrigo.
A experiência amorosa contemporânea reencontra o cotidiano como espaço legítimo do sagrado.
O amor manifesta-se na mesa partilhada no pano estendido ao sol na espera paciente.
Ele recusa a teatralidade e escolhe a constância.
A pessoa amada não é mito distante mas presença concreta que respira o mesmo tempo e carrega as mesmas fragilidades.
Nessa proximidade reside uma beleza silenciosa que educa o olhar e disciplina a sensibilidade.
O sentimento não se constrói isolado mas nasce impregnado de memória.
Cada gesto amoroso carrega ecos de vozes antigas transmitidas sem registro.
O amor verdadeiro reconhece que não começa em si mesmo mas prolonga um fio que atravessa gerações.
Essa consciência devolve profundidade ao presente e impede que o afeto se torne descartável.
A contenção emerge como virtude essencial.
Amar não é transbordar sem medida mas sustentar com firmeza.
A palavra é escolhida, o gesto é pensado, a promessa é respeitada.
No mundo saturado de estímulos essa contenção torna-se forma elevada de coragem moral.
O amor aprende fica quando se abdica do excesso.
A harmonia surge como finalidade última.
O sentimento não busca vencer nem dominar mas equilibrar.
Ele molda o caráter, suaviza os impulsos e orienta a convivência.
Amar torna-se exercício diário de aperfeiçoamento interior sem espetáculo e sem ruído.
Assim o amor reencontrado nos dias atuais afirma-se como herança viva de uma sensibilidade antiga.
Ele demonstra que a verdadeira permanência nasce da fidelidade à forma da escuta atenta do outro e da humildade diante do tempo apressado.
E quando o coração compreende isso o amor deixa de ser vertigem e transforma-se em morada firme onde a alma finalmente repousa.
Escritor:Marcelo Caetano Monteiro .
TENSÃO APARENTE ENTRE VOCAÇÃO E DEVER FAMILIAR NAS ESCRITURAS.
Desde as primeiras civilizações organizadas a existência humana foi atravessada por uma tensão estrutural entre pertencimento e transcendência. O homem antigo não se compreendia como indivíduo isolado. Ele era clã, sangue, herança e continuidade. A família constituía o eixo econômico moral, religioso e simbólico da vida. Honrar os pais não era apenas virtude ética. Era condição de sobrevivência social e cósmica, por ser em si mesmo um sentimento inato e divino no homem. Romper com esse eixo significava desordem perda de identidade e exclusão. Por isso toda tradição religiosa séria jamais tratou o dever familiar com leviandade. A Escritura hebraica nasce nesse horizonte antropológico profundo no qual a família é célula do mundo e espelho da ordem divina.
É justamente por essa razão que os episódios bíblicos que aparentam tensão entre vocação espiritual e dever familiar exigem leitura séria e não literalista. Não se trata de oposição entre Deus e a família como se ambos competissem no mesmo plano. Trata-se da hierarquia do sentido último da existência. A Escritura não anula o humano. Ela o orienta para seu fim mais alto. Quando analisamos Mateus 8:21 e Lucas 9:59 à luz do contexto semítico antigo compreendemos que a expressão sepultar o pai não se refere necessariamente a um funeral imediato. Trata-se de uma fórmula cultural que indicava permanecer sob o teto paterno até o fim natural da vida do genitor. Em termos concretos isso podia significar décadas de adiamento.
Do ponto de vista sociológico essa escolha representava estabilidade. Permanecer na família assegurava proteção econômica status e continuidade. Psicologicamente oferecia segurança afetiva e previsibilidade. Filosoficamente significava optar pelo conhecido, pelo mundo já estruturado. O chamado de Jesus rompe exatamente com essa zona de conforto. Não porque despreze o afeto filial mas porque identifica ali um risco interior. O risco de transformar o afeto em justificativa para a postergação indefinida do dever espiritual. O ensinamento não condena o cuidado com os pais. Ele denuncia a instrumentalização do dever familiar como escudo contra a exigência da verdade.
Jesus dirige-se à intenção íntima e não ao gesto exterior. Sua palavra revela um princípio antropológico profundo. O ser humano é capaz de revestir o medo com linguagem moralmente nobre. Quando isso ocorre o chamado precisa ser radical para desvelar a divisão interior. O Reino de Deus não admite adiamento quando a consciência já foi despertada. Não por rigorismo mas por coerência existencial. Uma consciência desperta que posterga o bem maior fragmenta-se internamente. E essa fragmentação gera angústia culpa e esterilidade espiritual.
Em contraste 1 Reis 19:20 apresenta um cenário distinto. Eliseu encontra-se em plena maturidade psicológica moral e espiritual. O chamado não o surpreende em hesitação. Ele já está interiormente decidido. Seu pedido para despedir-se dos pais não é fuga nem barganha temporal. É fechamento consciente de um ciclo. Sociologicamente é um gesto de honra. Antropologicamente é um rito de passagem. Psicologicamente é integração e não divisão. Filosoficamente é liberdade madura. Elias consente porque reconhece a inteireza interior daquele que responde.
O gesto seguinte de Eliseu sacrificar os bois e queimar os instrumentos de trabalho possui valor simbólico decisivo. Ele rompe com a economia antiga da própria vida. Não há plano de retorno. Não há reserva psicológica. Não há dupla pertença. Esse gesto revela que a despedida não foi adiamento mas confirmação. A Escritura aqui ensina que o critério nunca está no ato visível isolado mas no estado interior da consciência.
Essa lógica atravessa os séculos e permanece atual. O mundo contemporâneo continua oferecendo escolhas que aparentam neutralidade moral mas que escondem adiamentos existenciais. Carreira, status, conforto aprovação social, vínculos afetivos podem tornar-se absolutos disfarçados. A lei divina inata inscrita na consciência humana ( 621 L.E. ) continua convocando ao sentido, ao bem, ao verdadeiro. O conflito não é entre Deus e a família mas entre verdade e autoengano. Quando o afeto é usado para evitar a responsabilidade espiritual ele precisa ser relativizado. Quando o afeto é expressão de retidão e ordem interior ele é preservado e honrado.
A tradição bíblica não legisla mecanicamente. Ela educa a consciência para o discernimento. Ela ensina que Deus está acima de tudo não como tirano mas como fundamento do sentido. Que o dever familiar é sagrado quando não se opõe à verdade. E que a vocação quando amadurece não admite reservas internas. Somente aquele que não se divide interiormente pode responder plenamente ao que lhe foi confiado. E somente esse caminha com firmeza serenidade e inteireza rumo ao destino que dá sentido à própria existência.
Autor: Marcelo Caetano Monteiro .
" E assim permanece a certeza antiga e inabalável. Tudo passa pelo tempo. Mas somente a verdade permanece de pé quando ele termina de falar. "
O ÚLTIMO SONHO E O CÂNTICO DO INFINITO.
Autor: Marcelo Caetano Monteiro.
"Foste tu quem me ensinou a coragem das estrelas antes da partida. Mostraste-me que a luz não se extingue com a ausência e que ela prossegue silenciosa mesmo quando a matéria silencia. Assim compreendi que a morte não interrompe o sentido. Apenas desloca o olhar para regiões mais profundas da consciência."
"No último sonho essa lição retorna com solenidade. A respiração torna-se curta não por medo mas pela vastidão do que se revela. O infinito não se impõe como mistério opressor mas como verdade acessível à alma desperta. Existir revela-se raro. Existir revela-se belo. Existir torna-se um privilégio ético e metafísico."
"Tentei pedir que tudo fosse dito novamente. Não por esquecimento mas porque certas verdades exigem repetição para serem inscritas no espírito. Quis escrevê-las mas não encontrei instrumento que comportasse tal grandeza. Há ensinamentos que não cabem na linguagem. Apenas na interioridade."
"O último sonho então se amplia. Ele une memória e cosmos. O universo deixa de ser vastidão impessoal e assume finalidade íntima. Tudo parece ter sido tecido para ser contemplado por um olhar consciente. Não por vaidade humana mas por correspondência tão íntima entre o ser e o todo."
"Nesse estado a psicologia encontra repouso. O eu já não se fragmenta em expectativas. Ele aceita sua raridade e sua responsabilidade. Filosoficamente o sentido não está em durar indefinidamente mas em ter sido capaz de perceber. Perceber a beleza. Perceber o outro. Perceber o infinito no instante."
"E se ainda fosse possível ouvir uma última vez essa verdade ela diria com voz serena que o existir é improvável e por isso mesmo sagrado. Que a consciência não é acaso mas chamado. Que o último sonho não encerra a jornada mas a coroa com lucidez reverente."
"Assim o espírito compreende que viver foi aprender a ver. E que ter visto com coragem ternura e verdade já constitui um feito épico diante do silêncio eterno do universo."
DO SUBCONSCIENTE À LEI.
Catarina Labouré / Irmã Zoé .
Atingindo o ponto de liberdade que faz do homem autor de si mesmo em suas experiências costumeiras e múltiplas ;a autoridade que lhe advém das escolhas que lhe percrustam o subconsciente, emergem em emoções vividas e imantadas mediante o tempo que é de teor significativo prior,produzem invariavelmente sem o preparo ideal nas pautas do evangelho que alforria o homem de suas dependências primitivas em todas as áreas em que lhe concernem dores atrozes,segue o espírito por força maior do bem estar que ele procura para seguir em paz e adiante;chega então o sondar dos mistérios que o seu "eu pessoal" teima em esquecer das arbitrariedades praticadas contra a própria vida íntima ou alheia que lhe segregam envolvidas no mesmo universo psicológico que roga lograr êxito para uma sublimação que trespassa os interesses pessoais.
Cada ação,cada ato lhe tornando o receptáculo intransferível baseado nas leis naturais que sustentam todas as existências primárias ou milenares que pairam sobre as mesmas livres escolhas; chegam para diluírem-se na égide que cada um trás acima dos próprios atos,mesmo que desconhecendo-lhes o nascedouro não olvidam que lhe fazem aparentemente e de imediato humano o incompreensível mal que também se lhe transforma num educandário tanto no corpo como n'alma.Cabe ao homem que busca algo mais além das aparências turvas observar para compreender essa lei de causa e efeito, é a mesma que lhe chega com as mesmas forças dos atos pretéritos lhe elevando em direção a sentidos mais avançados e objetivos luminosos, abrindo-lhe portas e janelas dantes desconhecidas,mas agora um tanto mais interiorizados que olhamos e que nos olham em somas efetivas para despontar e redirecionar todos os que buscam a paz e o equilíbrio que almejamos,vivendo hoje esses sentidos, para que nessa transmutação amparada sob à lei inalienável da justiça divina aumentem em cada um de nós o merecimento de viver em mundos melhores e superiores na ação da paz conquistando ante as lei das reencarnações a lívida consciência dos deveres por hora bem realizados para com Deus na pessoa daqueles que conosco jornadeiam na mesma senda e seara.
Muita paz.