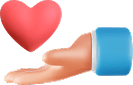Texto de Amor com Músicas
" Bom dia amigos da direita
da esquerda
da frente
de trás
bom dia ai em cima
meu pai do céu
bom dia para quem pensa positivo
que em definitivo
faz a coisa acontecer
bom dia menina linda
bom dia garoto malandro
bom dia meu amor
bom dia para o poeta
para a dama
para o locutor
bom dia consolador
e assim dando bom dia a muitos
convido para uma corrente
seguirmos em frente
buscando sempre o bem
que assim seja
(amém)
bom dia
.
Jesuíno Mandacaru
" E aqui estamos, prestes a darmos o nosso sim
mas antes quero que saibas
o meu não é um sim qualquer
é um sim recheado de sonhos
de desejos, de carinhos e de amor que quero te dar
um sim que esperei durante muito tempo
um sim que esperou a beleza do teu sorriso
para acontecer
um sim que o coração não pode traduzir
um sim que daqui a pouco será nosso
um sim mergulhado em certezas
um sim, eu te amo
para sempre...
Se alguém por algum motivo, lhe tirar as flores
ofereça o perfume que restou em suas mãos
quando amanhecer e não tiver sol
agradeça pela chuva, que abençoada, fertiliza o chão
quem olha sempre o bem
enxergará positividade mesmo na derrota
nada é tão ruim ou em vão,
nem existe algo que seja de todo inútil
cultive o hábito de oferecer sempre o melhor
e suas mãos. ainda que vazias, continuarão perfumadas
" Quando você não for a primeira pessoa na vida de alguém
e os olhares já não traduzirem desejos,
quando os sorrisos forem escassos,
guarda sua alma,
aceita a generosidade da vida e recomeça.
Haverá de o sonho novamente acontecer,
como sempre, embora tarde, outro sonho.
Quando você não for a primeira pessoa de alguém que você ama,
não aceite ser a segunda,
nada valerá ser deixado para trás,
ninguém é objeto.
Procura um canto,
mesmo distante do que um dia foi seu
cure suas dores,
elas lhe ensinarão a valorizar as novas chegadas
os novos dias, e talvez até um novo amor....
" Será que somos apenas passageiros
de um tempo que é tão pouco e se esvai
por que será que ainda temos tanto medo
de cantar o amor, cultivar a paz
será que somos poucos
ou apenas loucos
quem entenderá
Armagedom a toda hora
vamos embora
não dá para esperar
descartai as fabulas contadas
armazenadas em tantos corações
somos grãos tão pequenos
nos esquecemos da preciosa união
será que ainda temos algum tempo
quem sabe poderemos juntos
curtir o paraíso que ele nos falou
será que somos apenas passageiros
ou é o nosso tempo que se acabou...
" Talvez eu devesse tentar
mais uma vez,
insistir
ouvir quem sabe outro não
a vida tem mostrado
que não é interessante correr atrás de coisas difíceis, impossíveis
mas que fazer se sou assim determinado
insensato
quando a procura é por algo
que não sei
resta tentar e tentando vou vivendo
buscando o que acho que é meu
esteja onde estiver...
Tão eu.
" O grande erro é esperar pelo amanhã
amanhã começarei a dieta, não há dieta, há habito, ou muda-se agora ou eternas desculpas para os erros do amanhã
espera-se um amor, programa-se viagens, tudo para o amanhã
e quando o amanhã chega, pizza é mais rápido. viagem vai de qualquer jeito, não vai dar para gastar o que queríamos,mas vamos mesmo assim. Olho pela janela e vejo o hoje. Que dia lindo!!, mas ontem estava cansado, não programei nada para o amanhã, achando até que poderia chover. Em um lindo domingo de sol, irei aproveitar para descansar dos prazeres que não curti e sequer cansei. Quanto ao almoço, compramos maionese, risoto e frango assado ( e quem sabe mais algumas coisinhas de gordos)...
"" As mais belas pernas que eu já vi
impecavelmente moldadas
pela meia calça, suave compressão
os seios empinados, redondos e jovens
frutos de silicone bem dosado
a face lisinha, perfeita
nenhuma ruguinha
belo resultado do botox
nos cabelos a cor natural
a mais moderna tintura
qualidade total
para completar a jovialidade
quanta preciosidade
um belo e vistoso sorriso de porcelana
um pouco de maquiagem
beleza custa uma grana
diante da perfeição
gastar é mera bobagem
o negócio é chamar atenção...
A imagem que você vê e não entende por quê
tem muito a ver com o que sente
primeiramente há alguém que não deveria existir
mas você insiste em dar vida
ilusão, não
monstros povoando sonhos
dissipando esperanças, calando vidas
acabe com eles
você é forte demais
sobreponha sua vontade
vença pela ousadia
não se entregue
já no inicio, diga não a depressão
ela parece flor cultivada no íntimo
e é apenas dor
dor que a alma tenta suportar
dor que um dia irá desaguar
pelas veredas dos olhos
ou na ilusão de tudo acabar
procure sorrir
"sorrir é o melhor remédio"
se ame intensamente
acabe com o tédio
procure abraços, ajuda
do psicólogo, dos amigos, de Deus
encontre alguém especial que possa lhe ouvir, amparar
e de uma forma simples e sincera
lhe amar...
" Ele disse adeus,
pensando que eu ia chorar
egoísta, quis me sufocar
logo eu
logo eu
agora estou
mandando ver na pista
está tudo bem
ninguém me segura
tô igual um trem
vê se não me procura
aquela vida juntos
ninguém mais atura
pode ir
o negócio agora é curtir, ser livre, ser do bem
sair, beber, fazer amigos, dançar também
a vida é muito boa, posso, me mandar
ninguém vai me prender dizendo me amar
tô fora oh!!
tô fora oh!!
ninguém vai me prender dizendo me amar
ninguém vai me prender dizendo me amar
ele disse adeus
então tá
vá com deus
amor...
" Vejo cachorros latindo
por fantasmas que acham que estão no quintal
vejo comunhão de idéias falidas,
perdidas em boatos e devaneios.
vejo muito por fazer,
porém, poucas mãos empreendedoras.
vejo as incertezas e as criticas tomarem conta,
contra a ilusão que as inverdades impõem.
vejo o caos dos cães
correndo para todos os lados,
atrás de seus medos,
mordem os rabos
pseudo coragem
tenho certeza,
fantasmas não existem...
"" Lá fora,
longe de mim,
e de todas as luzes do mundo
existem castiçais abençoados
replicando nossa luz
eternas plumas
lá na alma
há um canto de sereia
paixão correndo na veia
bailando, no compasso do amor
lá em ti
onde a sós
sobram verdades
somos nós
e isso é tudo....
"" Normal é o vento a toda hora me dizer que sim
e confirmar através da alegria das folhas
o indício da tua chegada
antes mesmo do meu sonho acordar
não te demores minha querida
pois só tenho esta vida para te esperar
mas o faço alegre, pois sei que virás
porém não te demores tanto
lembra-te da minha alma que canta alegremente à tua espera
e dos pássaros que criei livres para te lembrarem
que posto a liberdade é o mais belo do amor
na porta aberta, para livremente poderes ir e ficar
normal meu amor
é toda a euforia que expressa meu coração
na certeza que o teu também cantará e dançará
fazendo em nós o princípio da felicidade
não te demores amor
não podemos perder tempo...
(Oscar Nedyas)
" Não se iluda, a felicidade, está nas coisas simples
no pacote de pipoca, no beijo roubado, no olhar carinhoso
às vezes vemos relacionamentos que apenas sugam um ao outro, deixando na maquiagem o vulto de um amor
mas ele estará na flor colhida no campo, no beijo sem hora marcada, no balanço das mãos dadas
não me iludo com gestos prontos, detalhes preparados, com a matemática no amor. Ele é apenas troca, cumplicidade,simplicidade e desejo...
" Não foi eu quem te elegeu rainha
pois que minha alma te fez soberana
e tendo ficado o tempo todo
nunca alguém se fez maior
não foi somente o corpo que desejou
foram sensações maiores que o próprio desejo
e ficaram, não por acaso ou beleza
mas sim por um misto de tanta coisa
quisera eu ser alheio ao que sente o coração
e tudo seria tão mais fácil
entretanto há algo que ainda pulsa
e não posso dizer que é apenas vida
decifrar esse conjunto de sentimentos é surreal
pois sei o nada que há na estância da possibilidade
sim, mais que um simples encantamento
sigo tendo a certeza de que o que sinto é de fato o tal amor....
Até me encontrar, você achará a solidão, liberdade, depois tudo será diferente. Perto da minha chegada, seu coração dançará alegremente, uma sensação gostosa tomará conta, pode ser até que cante. Sentirá anjos abençoando, será feliz até nas coisas mais bobas, um êxtase que era sentido na adolescência será todo seu. Não lembrará de dores, uma química nova fará com que tudo pareça belo, prazeroso e você se entregará sem medos, por inteira...
Nos amaremos para sempre.
“ Os traços perderam-se no caminho
posto que no começo era forte o tom
ao final, via-se apenas o pergaminho
e foi apagando também a saudade
antes raridade, brilhante
agora apenas um eco distante
seus aços mataram tudo
os passos o seguiram
até o horizonte desaparecer
o seu cheiro foi sumindo,
quase sem querer
morreu dia após dia, sentimento e paixão
semelhante aos compassos finais da música
definharam
os traços hoje são inexpressivos
apenas deixaram a dúvida do que realmente se viu
se tudo fora miragem
ou faltara coragem
de entender que você nunca chegou,
nem partiu
e na verdade foi apenas um sonho
que nunca existiu…
" O destino nos separou,
Partimos com o coração partido para outros caminhos
Mas de minha lembrança você nunca saiu.
Continuou sendo a estrela, que me guiou rumo a um mundo melhor
Como são lindas nossas lembranças
De um tempo em que éramos quase crianças
Pensando que a vida ia ser só de amor
Lembranças que o tempo não conseguirá mudar
Quando todos nossos sonhos eram só de se amar
Lembranças que nem o tempo, nem ninguém
poderá apagar...""
" Mas eu te cantarei ao dono do tempo
sem medo de poder perder o tom
te levarei no peito, na alma, na emoção
e onde ficaste, desejo que te sobre felicidade
continuarei andante, peregrino do amor
ave que voa infinitos
fera que sabe o rugir da saudade
que subtrai boas sementes da dor
a todos que souberam que o nosso nada seria para sempre
deixo uma citação
amor é pássaro que voa livre
e não pousa em qualquer coração...
" Nada em mim foi ou é escravo de qualquer coisa,
sou livre para determinar meu amanhã e o faço consciente de que desfrutarei daquilo que estou plantando.
minhas sementes são fortes e espinhosas
mas têm na essência a exuberância e a simplicidade das flores
por isso espero
nada em mim é derradeiro...