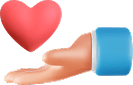Coleção pessoal de ateodoro72
Crime algum jamais subsistiria sem a conivência de parte do Braço Armado do Estado.
Não se trata apenas de falhas individuais, mas de uma engrenagem descaradamente silenciosa que aprende a sobreviver nas frestas do poder.
O crime organizado, por mais ousado que seja, não floresce apenas da ousadia dos criminosos; ele depende também da cegueira conveniente, do silêncio comprado e, às vezes, da cumplicidade travestida de autoridade.
Quando o braço que deveria proteger passa a tolerar — ou negociar — com aquilo que deveria combater, a lei deixa de ser um limite e passa a ser uma escolha seletiva.
E é nessa seletividade que o crime encontra o seu habitat mais confortável.
Porque nenhum império clandestino cresce apenas pela força das armas ilegais; ele cresce sobretudo pela fragilidade moral das armas legais.
O mais perturbador não é apenas a existência do crime, mas a naturalização dessa convivência.
Aos poucos, o escândalo vira rotina, a denúncia vira ruído e a indignação vira cansaço.
Assim, a sociedade aprende a conviver com o absurdo como se ele fosse apenas mais um detalhe inevitável da paisagem.
E talvez seja justamente aí que mora a maior vitória do crime: quando ele deixa de depender apenas de seus próprios tentáculos e passa a respirar também pelos pulmões do próprio Estado.
Porque, nesse estágio, o combate já não é apenas contra criminosos assumidos ou não — é contra a erosão silenciosa daquilo que deveria nos proteger deles.
Não há Passeios que se comparem aos que você faz nas Lembranças daqueles que não Precisam de você para nada.
Porque é ali, nesse território silencioso da memória, que a presença deixa de ser obrigação e passa a ser a mais charmosa escolha.
Quando alguém não precisa de você — não depende, não exige, não cobra — e ainda assim guarda você em suas lembranças, é sinal de que sua existência atravessou algo mais profundo do que a utilidade.
No mundo apressado das relações funcionais, muitos só se lembram de quem pode lhes oferecer algo: companhia, ajuda, vantagem, distração…
Mas nas lembranças de quem já não precisa de nada disso, permanecem apenas aqueles que tocaram a alma de alguma forma.
Ali não há barganha, apenas significado.
Ser lembrado por quem poderia simplesmente seguir sem você é uma das formas mais discretas de eternidade que alguém pode alcançar.
É quando sua presença deixa de ser circunstância e se transforma em marca.
Talvez por isso esses “passeios” sejam tão raros e tão valiosos.
Porque nas lembranças sinceras não entramos pela porta da necessidade, mas pela janela da humanidade que fomos capazes de oferecer.
E, no fim das contas, é nesse lugar — onde não éramos necessários, mas ainda assim fomos importantes — que descobrimos o mais Puro e Verdadeiro tamanho daquilo que fomos na vida de alguém.
Não é sobre
se libertar da dor,
mas do que
causa
a dor.
Há um equívoco muito comum em nossa maneira de lidar com o sofrimento: tratamos a dor como inimiga, quando muitas vezes ela é apenas a mensageira.
Passamos grande parte da vida tentando silenciá-la, anestesiá-la ou escondê-la, como se o problema estivesse no alarme e não no incêndio que ele anuncia.
Libertar-se da dor pode até oferecer algum alívio momentâneo, mas quase nunca transforma a realidade que a produz.
É como trocar o curativo sem limpar a ferida — por um tempo parece resolvido, até que a infecção volta a lembrar que o problema nunca foi realmente enfrentado.
O que realmente exige coragem não é fugir da dor, mas olhar com honestidade para as causas que a alimentam.
Às vezes são relações que se sustentam no desgaste, expectativas que nunca foram nossas, silêncios que acumulamos para manter aparências ou estruturas que aprendemos a aceitar como inevitáveis.
A dor, nesse sentido, pode ser um tipo muito raro de lucidez.
Ela revela aquilo que a acomodação tenta esconder.
E, por mais desconfortável que seja, ela também aponta para onde a mudança — de fato — precisa acontecer.
Libertar-se do que causa a dor exige mais do que resistência emocional — exige revisão de escolhas, rompimento com padrões e, muitas vezes, a coragem de contrariar as narrativas que nos ensinaram a suportar o insuportável.
Porque, no fim, não se trata de aprender a viver anestesiado.
Trata-se de aprender a viver sem precisar se ferir para continuar existindo.
Entre apoderar-me da Verdade para julgar alguém, prefiro togar-me da Justiça Poética para julgar os que o julgam.
Talvez porque a Verdade — essa palavra tão invocada — raramente chega pura às mãos humanas.
Quase sempre, ela vem filtrada por convicções, interesses, ressentimentos ou paixões mal resolvidas.
E, quando alguém acredita possuir a Verdade absoluta, o julgamento deixa de ser um exercício de consciência para se transformar num espetáculo de vaidade moral.
A Justiça Poética, por outro lado, não se preocupa em parecer infalível.
Ela apenas observa, com a paciência do tempo, como cada gesto humano acaba escrevendo a própria sentença.
Quem julga com excesso costuma revelar mais de si do que daquele que está sendo julgado.
No tribunal silencioso da vida, o eco das palavras denuncia as intenções que tentavam se esconder atrás delas.
Há uma estranha pressa em condenar.
Como se apontar o erro alheio fosse uma forma rápida de limpar a própria biografia.
Mas a experiência ensina que os dedos que se erguem para acusar, quase sempre ignoram o espelho que os acompanha.
Por isso, em vez de disputar a posse da Verdade — como se ela fosse um troféu moral — prefiro assistir ao lento trabalho da coerência e das contradições humanas.
A Justiça Poética tem um modo curioso de agir: ela não grita, não se apressa e não faz discursos inflamados.
Apenas permite que cada um seja, com o tempo certo, revelado pelas próprias atitudes.
E, no fim das contas, quase sempre descobrimos que julgar os juízes é menos sobre condená-los… e mais sobre lembrar que ninguém deveria ocupar o tribunal da consciência humana sem antes revisitar, em silêncio, o próprio banco dos réus.
Não me é concebível que o Dia de Luta por Direitos das Mulheres seja edulcorado para virar
Dias de Glórias
— nem Política nem Comercial.
Quando uma data nascida da dor e na dor, da resistência e da coragem coletiva é transformada em vitrine de marketing ou palanque de conveniências, algo essencial se perde no meio do caminho.
A Memória das Mulheres que enfrentaram jornadas desumanas, violência, silenciamento e invisibilidade não foi construída para decorar discursos, mas para provocar mudanças reais na estrutura da sociedade.
Há um certo conforto em celebrar conquistas com flores, campanhas publicitárias e hashtags bem elaboradas.
O problema é quando essa estética da homenagem passa a substituir o compromisso com a transformação.
A luta, então, vira cerimônia; a denúncia vira slogan; e a história vira produto.
Direitos não nasceram de gentilezas institucionais nem de estratégias de branding.
Foram arrancados à força da persistência de Mulheres que se recusaram a aceitar o lugar que lhes foi imposto.
Cada avanço carrega o peso de muitas que pagaram caro demais para que hoje se fale ou se sonhe em igualdade.
Por isso, quando o dia que deveria ser de memória crítica se transforma apenas em ocasião para discursos oportunos e promoções temáticas, corremos o risco de anestesiar aquilo que ainda precisa incomodar.
Porque enquanto houver violência, desigualdade e silenciamento, essa data não pode ser apenas comemorativa — ela precisa continuar sendo inquietante.
O verdadeiro respeito a essa luta não está na doçura das homenagens, mas na honestidade de reconhecer que ainda há muito a ser enfrentado.
Afinal, datas históricas não existem para nos confortar; existem para nos lembrar de que a história ainda está sendo escrita — e de que a Responsabilidade por ela também é nossa.
Feliz Dia de Lutas — Feliz Futuro de Glórias, Mulheres!
Com tantas Guerras descaradamente ignoradas no “nosso” país, não deveria nos sobrar tanto tempo nem disposição
para palpitarmos nas guerras dos outros.
Quem vê a assustadora parte de um povo escolhendo lado em outras guerras, pode até acreditar que não temos tantos conflitos internos para lutar.
Mas temos.
E não são poucos.
São guerras sem sirenes internacionais, sem transmissões ao vivo em alta definição, sem mapas coloridos nos telejornais.
São guerras silenciosas, travadas nas periferias esquecidas, nas filas dos hospitais, nas salas de aula sucateadas, nos lares onde a dignidade perdeu território para a sobrevivência.
Há uma guerra diária contra a desigualdade que normalizamos.
Uma guerra contra a corrupção que denunciamos em ano eleitoral e relativizamos no resto do tempo.
É guerra contra a ignorância cultivada, contra a desinformação compartilhada com convicção e preguiça de checar.
Contra o desalento que transforma cidadãos em espectadores.
Ainda assim, muitos preferem empunhar bandeiras internacionais com a mesma facilidade com que ignoram as trincheiras da própria rua.
Opinar sobre conflitos distantes exige apenas conexão à internet.
Enfrentar os conflitos internos exige caráter, constância e compromisso — três virtudes que não rendem tantos aplausos nas redes.
Não se trata de indiferença ao sofrimento alheio.
Solidariedade é uma grande virtude.
O problema é quando a comoção seletiva vira espetáculo e a indignação terceirizada serve apenas para aliviar a consciência enquanto as mazelas domésticas seguem intactas.
É curioso: somos rápidos para apontar injustiças além-mar, mas lentos para reconhecer que também somos parte — ativa ou omissa — das injustiças daqui.
Escolher um lado em guerras estrangeiras pode até dar a sensação de lucidez moral.
Mas escolher enfrentar as próprias contradições exige maturidade cívica.
Talvez o que nos falte não seja opinião, mas prioridade.
Não seja engajamento digital, mas responsabilidade real.
Porque enquanto gastamos energia demais disputando narrativas globais, há batalhas locais esperando por gente disposta a lutar menos com o teclado e mais com atitudes.
E, no fim, a pergunta que fica é bastante desconfortável: estamos escolhendo lados por consciência… ou por conveniência?
A única economia
que preocupa o político-influencer
é a
Economia da Atenção.
Não a economia do pão na mesa, do remédio na prateleira, do emprego que dignifica — mas a economia do clique, do compartilhamento, do engajamento nervoso.
Nessa bolsa de valores invisível, a moeda não é o trabalho: é o tempo do olhar.
E o olhar, quando capturado, se transforma em poder.
Vivemos a era em que o discurso não precisa ser profundo, precisa ser performático.
Não importa a coerência, importa o alcance.
Não importa a verdade, importa a viralização.
O algoritmo não premia a lucidez; ele recompensa o ruído.
E este, por sua vez, é o fertilizante da polarização.
O político-influencer aprendeu que governar exige responsabilidade, mas performar exige apenas estratégia.
Ele troca o gabinete pelo estúdio, o debate pelo corte editado, a política pública pela pauta que inflama.
Quanto mais indignação, melhor.
Quanto mais medo, mais retenção.
Quanto mais simplificação, mais compartilhamento.
E nós, cidadãos, tornamo-nos audiência.
A Economia da Atenção não se sustenta com serenidade; ela precisa de tensão permanente.
Por isso, crises são alongadas, conflitos são dramatizados, e soluções reais são silenciosamente adiadas.
Resolver um problema é muito menos lucrativo do que explorá-lo.
A tragédia é que, enquanto disputamos narrativas, negligenciamos estruturas.
Enquanto reagimos a frases de efeito, deixamos de cobrar projetos consistentes.
Enquanto consumimos escândalos em episódios diários, esquecemos de acompanhar políticas em processos longos.
No fim, a pergunta que fica não é sobre eles, mas sobre nós:
quanto do nosso tempo estamos entregando a quem lucra com a nossa distração?
Talvez a revolução mais silenciosa — e também mais poderosa — seja aprender a retirar a atenção de onde ela é explorada e devolvê-la ao que é essencial.
Porque, se a atenção é a moeda forte, ainda somos o banco central.
A Cultura do
Ruído Estrutural retroalimenta a única Economia
que desperta
a preocupação
dos Políticos-influencers: a Economia da Atenção.
Ela não é apenas um efeito colateral do nosso tempo — ela é método.
É estratégia.
É um cenário cuidadosamente mantido para nada ser profundamente ouvido, apenas rapidamente consumido.
No meio de tantas vozes, opiniões, escândalos instantâneos e indignações programadas, o silêncio se torna subversivo.
O ruído constante embaralha prioridades.
Tudo parece tão urgente quanto grave.
Tudo parece definitivo — até que o próximo assunto surja e apague o anterior.
Nesse ambiente saturado, a verdade não precisa ser negada; basta ser abafada.
É nesse palco que prospera a única economia capaz de mobilizar certos Políticos-influencers: a Economia da Atenção.
Não importa tanto resolver problemas quanto performar preocupação.
Nem importa tanto governar quanto engajar.
O termômetro deixa de ser o impacto real e passa a ser o alcance.
A métrica substitui a ética.
A Cultura do Ruído Estrutural retroalimenta esse ciclo porque transforma cidadãos em plateia, problemas e soluções em conteúdos.
A cada nova polêmica, a cada novo corte editado estrategicamente, a atenção é capturada — e, uma vez capturada, monetizada politicamente.
A superficialidade não é acidente; é produto.
Enquanto discutimos manchetes, raramente discutimos estruturas.
Enquanto reagimos a frases, esquecemos de questionar sistemas.
O ruído nos cansa, e o cansaço nos torna menos exigentes.
E quando a exaustão vira regra, qualquer gesto performático parece ação concreta.
Talvez a maior resistência, hoje, seja reaprender a escutar com profundidade.
Reduzir o consumo compulsivo de indignação.
Escolher menos reações automáticas e mais reflexão deliberada.
Porque onde há silêncio suficiente para pensar, há menos espaço para manipulação.
No fim, a Cultura do Ruído só prospera enquanto nossa atenção for distraída.
Quando a atenção volta a ser consciente, ela deixa de ser moeda de troca barata — e volta a ser instrumento de transformação.
No abismo sutil
entre a Religiosidade
e o Fanatismo,
o Encardido
perverteu as Almas Carentes
para instrumentalizar as igrejas.
A religiosidade, quando nasce da consciência, é ponte.
Liga o humano ao transcendente, a fragilidade à esperança, o erro à possibilidade de redenção.
Já o fanatismo é muro.
Separa, acusa, simplifica o que é complexo e transforma fé em trincheira.
Entre a ponte e o muro há um abismo quase imperceptível — sutil como a Vaidade Espiritual que se disfarça de Zelo.
É nesse intervalo que a fé deixa de ser encontro para ser ferramenta.
Ferramenta de poder, de influência, de domínio.
Quando a espiritualidade perde o compromisso com a verdade e se apaixona pela própria narrativa, ela se torna vulnerável à manipulação.
E almas carentes — feridas pela vida, desassistidas pelo Estado, esquecidas pela sociedade — tornam-se terreno fértil para discursos que prometem pertencimento antes mesmo de oferecerem transformação.
O fanatismo seduz porque oferece respostas rápidas para dores profundas.
Ele entrega identidade pronta a quem ainda não se encontrou.
Dá inimigos claros a quem não consegue nomear suas angústias.
Simplifica o mundo em “nós” e “eles”, como se Deus coubesse em slogans e a Eternidade pudesse ser reduzida a palanque.
A religiosidade madura, ao contrário, incomoda.
Ela exige autocrítica, compaixão e muita responsabilidade.
Ela não precisa gritar para existir, nem destruir para se afirmar.
Sabe que a fé autêntica não é instrumento de coerção, mas caminho de conversão — primeiro interior, depois social.
Quando igrejas se deixam capturar pela lógica da influência e do controle, deixam de ser hospital para se tornarem comitê.
E onde deveria haver cuidado, instala-se a estratégia.
Onde deveria haver silêncio reverente, instala-se o ruído deliberadamente calculado.
O sagrado passa a ser moeda simbólica numa economia de poder.
Talvez o maior antídoto contra essa instrumentalização seja a Maturidade Espiritual.
Uma fé que não negocia sua essência por aplausos.
Uma comunidade que prefere formar consciências a fabricar soldados.
Um povo que entende que Deus não precisa de defensores raivosos, mas de testemunhas coerentes.
No fim, o abismo entre Religiosidade e Fanatismo não é teológico — é humano.
E atravessá-lo ou não, depende menos do discurso dos púlpitos e mais da vigilância.
Muitos fingem lutar por direitos ao buscarem privilégios em detrimento do direito de alguém.
Eles vestem a armadura do discurso justo, empunham bandeiras coloridas e erguem palavras como se fossem espadas morais.
Dizem lutar por direitos, mas no fundo desejam apenas inverter a balança — não para equilibrá-la, e sim para fazê-la pender a seu favor.
A luta por direitos nasce do reconhecimento da dignidade comum.
Já a busca por privilégios nasce do medo de perder vantagens.
Direitos ampliam a mesa; privilégios escolhem quem pode sentar.
Os direitos libertam; os privilégios substituem correntes de lugar.
Há uma diferença muito sutil — e também muito perigosa — entre justiça e conveniência.
Quando alguém reivindica algo que, para existir, precisa reduzir o espaço legítimo do outro, talvez não esteja defendendo um Direito, mas disputando Superioridade.
E toda superioridade travestida de virtude carrega o germe da injustiça.
É fácil se comover com o próprio discurso.
Difícil é examiná-lo com honestidade.
Porque defender direitos exige coerência: o que peço para mim deve caber também ao outro, inclusive àquele de quem discordo.
A verdadeira luta por direitos não escolhe favoritos.
Ela não humilha para incluir, não exclui para compensar, não silencia nem divide para vencer.
Ela constrói pontes onde antes havia muros.
No fim, a pergunta que resta é tão simples quanto desconcertante: estamos ampliando a Liberdade Coletiva ou apenas redesenhando o Mapa dos Privilégios?
A resposta começa no espelho da consciência.
Ainda que todos os políticos fossem Corruptos, seria menos grave que se todos os corruptos fossem Políticos.
Em ano de Eleições — especialmente as gerais — sempre arrastamos a Corrupção para o centro do palco.
Mas quase sempre nos esquecemos, por descuido ou capricho, que o combate à Corrupção começa com o nosso bom comportamento.
Ela é sempre arrastada para o centro do palco como a grande vilã nacional, apontada em debates, estampada em manchetes, tomada como inimiga número um por quase todos.
Mas, terminado o espetáculo, o que fazemos com o espelho?
É muito curioso como denunciamos com veemência os desvios bilionários, enquanto tratamos como irrelevantes os pequenos atalhos do cotidiano: a vantagem indevida — o “jeitinho brasileiro” — e o silêncio cúmplice diante do erro que nos favorece.
Condenamos os políticos corruptos, mas normalizamos a infração que nos beneficia.
Se tivéssemos a idoneidade da qual só sentimos falta neles, certamente o Brasil não padeceria da Metástase Cultural da Corrupção.
Exigimos ética em Brasília, mas relativizamos a nossa nas esquinas.
Talvez porque seja mais confortável enxergar a Corrupção como um monstro muito distante, habitante exclusivo dos palácios, e não como uma “cultura” que se infiltra nas escolhas diárias.
É mais fácil votar contra ela do que viver contra ela.
O combate à Corrupção não começa nas urnas — começa no caráter.
Não nasce nos discursos inflamados — nasce nos hábitos.
Ele se fortalece quando o cidadão decide que sua integridade não depende de quem governa, mas de quem ele é.
Se quisermos, de fato, mudar o enredo político, precisamos antes revisar o roteiro pessoal.
Porque um povo que naturaliza pequenas desonestidades, e ainda as batiza de “jeitinho”, dificilmente sustentará grandes virtudes.
No fim, talvez a pergunta mais honesta, urgente e necessária — não só em ano eleitoral — não seja apenas “quem é o menos corrupto?”, mas “o quanto estou disposto a não ser?”.
A cultura do ruído estrutural estendeu o tapete para os políticos-influencers desfilarem a economia da atenção.
Essa cultura não nasceu do acaso; foi cuidadosamente cultivada como terreno fértil para que os políticos-influencers florescessem.
Quando tudo é urgente, nada é profundo.
Quando todos falam ao mesmo tempo, quase ninguém escuta.
Nesse cenário, a lógica da economia da atenção deixa de ser um efeito colateral do mundo digital e passa a ser o próprio palco da política.
O ruído constante — feito de cortes rápidos, frases de efeito e indignações calculadas — substitui qualquer debate pela performance.
A coerência perde espaço para o engajamento; a verdade, para o alcance.
O que importa não é a densidade da proposta, mas a capacidade de viralizar.
O mandato vira vitrine.
A responsabilidade pública se converte em estratégia de marca pessoal.
E assim, a política deixa de ser exercício de construção coletiva para se tornar espetáculo de permanência no feed.
Não se governa para transformar, mas para manter relevância.
Não se dialoga para esclarecer, mas para capturar cliques.
A cada polêmica cuidadosamente plantada, a cada escândalo amplificado, reforça-se a dependência do público ao próximo estímulo — como se a democracia precisasse de entretenimento para sobreviver.
O mais inquietante é que o ruído não apenas distrai: ele molda.
Condiciona percepções, simplifica problemas complexos e nos habitua à superficialidade.
A pressa vira método.
A indignação vira produto.
E a cidadania corre o risco de ser reduzida à plateia.
Talvez o verdadeiro ato de resistência, nesse ambiente, seja reaprender o silêncio crítico — aquele que nos permite escutar além do grito, pensar além do meme e exigir mais do que presença digital.
Porque enquanto o ruído for regra, os desfiles continuarão.
E a democracia, se não for cuidada, corre o risco de se tornar apenas mais um conteúdo patrocinado pela nossa própria distração.
Fomos tão seduzidos pelo Universo Digital ao ponto de romantizar um mundo onde políticos-influencers fingem preocupação.
Ficamos tão apaixonados que já nem percebemos quando a luz da tela substitui a luz da nossa consciência.
A promessa era conexão; entregaram-nos performance…
Era participação; acostumaram-nos ao aplauso virtual.
E, nesse palco infinito, aprendemos a confundir engajamento com compromisso.
Romantizamos um mundo onde políticos-influencers fingem preocupação como se stories fossem políticas públicas e como se uma live substituísse a presença concreta nas ruas, nos hospitais e nas escolas.
A estética do cuidado passou a valer mais do que o cuidado em si.
O roteiro é simples: indignação calculada, frases de efeito, trilha sonora emotiva e um corte estratégico para as próximas eleições.
O algoritmo aplaude. A plateia compartilha. E a realidade, silenciosa, continua exigindo mais do que curtidas.
Não é que a política tenha se tornado espetáculo; talvez sempre tenha flertado com ele.
A diferença é que agora o espetáculo cabe no bolso e até vibra.
A cada notificação, reforça-se a sensação de proximidade com quem, muitas vezes, está distante das consequências do que decide — ou não.
A encenação é convincente porque fala a língua da emoção rápida — e emoções rápidas não exigem memória longa.
O risco não está apenas nos que fingem; está também em nós, que passamos a preferir o conforto da narrativa à complexidade da verdade nua e crua.
É mais fácil seguir quem fala bonito do que cobrar quem trabalha em silêncio.
E é mais sedutor compartilhar um corte inflamado do que acompanhar um projeto até o fim. Assim, a política vira conteúdo, e o cidadão, audiência.
Talvez a maturidade digital comece quando entendermos que preocupação não se mede por visualizações, mas por coerência; não se prova com filtros, mas com atitudes; não se sustenta com hashtags, mas com responsabilidade.
Enquanto confundirmos presença online com compromisso real, continuaremos aplaudindo performances e chamando de liderança o que, no fundo, é apenas expertise digital.
No fim, o universo digital não é vilão nem salvador — é espelho.
E todo espelho revela muito menos sobre quem está do outro lado da tela do que sobre quem escolhe acreditar nele — o reflexo.
O oferecimento da Digitalização antes da alfabetização foi a maneira mais sutil de reinaugurar a imobiliária mental.
Primeiro, entregaram telas.
Depois, aplicativos.
Em seguida, prometeram acesso ilimitado ao mundo.
Mas esqueceram — ou fizeram questão de esquecer — de ensinar a chave mais básica da liberdade: a leitura crítica da realidade.
Sem alfabetização sólida, a digitalização não emancipa; ela apenas decora a vitrine do cativeiro.
Quem não aprende a ler profundamente, escreve superficialmente a própria história.
Quem não desenvolve o raciocínio antes do clique, torna-se hóspede permanente dos pensamentos alheios.
E assim, enquanto acreditamos navegar com autonomia, vamos alugando quartos na mente para narrativas prontas, opiniões embaladas e verdades patrocinadas.
A antiga exclusão era visível: faltavam livros, escolas, oportunidades.
A nova é sofisticada: há excesso de informação, mas escassez de compreensão.
A tela ilumina o rosto, mas nem sempre esclarece o espírito.
A conexão é rápida; a consciência, nem tanto.
Digitalizar antes de alfabetizar é inverter a fundação da casa.
É construir telhado sem pilares.
É oferecer megabytes a quem ainda não domina as sílabas da própria dignidade intelectual.
E nessa pressa tecnológica, reabriram discretamente a imobiliária mental — onde muitos passam a morar em ideias que nunca escolheram, apenas herdaram pelo algoritmo.
Alfabetizar é ensinar a pensar.
Digitalizar deveria ser apenas ampliar horizontes.
Quando a ordem se inverte, a liberdade vira interface, e o pensamento crítico vira opcional.
No fim, não se trata de ser contra a tecnologia — mas de lembrar que nenhuma ferramenta substitui a consciência.
Porque quem aprende a ler o mundo antes de apenas deslizar por ele, dificilmente aceita pensar para sempre com a cabeça dos outros.
Esperar que Políticos-Influencers botem a mão na massa é tão incoerente quanto esperar que algoritmos ignorem ruídos.
Vivemos um tempo em que a “performance” vale muito mais do que a prática.
O discurso bem editado, o vídeo estrategicamente roteirizado e a indignação ensaiada rendem mais engajamento do que qualquer trabalho silencioso, técnico e persistente.
O palco recompensa quem fala; raramente quem faz.
E há quem ainda se surpreenda quando descobre que o espetáculo não constrói pontes, não asfalta ruas, não reforma escolas, não constrói hospitais — apenas acumula visualizações.
Políticos que se comportam como influencers aprendem rápido a lógica da vitrine: presença constante, frases de efeito, antagonismos calculados.
“Botar a mão na massa” exige outra disposição — menos câmera, mais compromisso; menos aplauso imediato, mais resultado demorado.
Exige aceitar que transformação real quase nunca viraliza.
Do outro lado, os algoritmos.
Eles não distinguem verdade de ruído moral; distinguem interação.
Amplificam o que provoca reação, não necessariamente o que produz solução.
Esperar que ignorem o barulho é desconhecer sua natureza.
Eles foram feitos para captar movimentos — e ruído é o maior deles.
O problema começa quando confundimos alcance com competência e engajamento com entrega.
Quando acreditamos que quem domina a narrativa domina também a realidade.
Não é incoerência apenas esperar ação de quem vive de exposição; é ingenuidade estrutural.
Talvez a maturidade política do nosso tempo passe por reaprender a valorizar o invisível: o gestor que trabalha mais do que posta, o servidor que executa mais do que promete, o cidadão que cobra resultado em vez de compartilhar espetáculo.
Porque, enquanto aguardamos que influencers governem e que algoritmos sejam neutros, seguimos terceirizando nossa criticidade.
E nada faz mais ruído do que uma sociedade que prefere o eco à obra.
Quem prefere guardar dinheiro do que recorrer à medicina particular, certamente tem muito pouca vida para tentar salvar.
Há uma diferença sutil — e muito profunda — entre economizar por prudência e economizar por medo de viver.
Os que preferem guardar dinheiro a recorrer à medicina particular, mesmo quando a urgência bate à porta, talvez não estejam apenas protegendo o bolso; talvez estejam, sem perceber, revelando a dimensão da vida que acreditam merecer preservar.
O dinheiro, em si, é ferramenta.
Pode comprar conforto, segurança e oportunidades.
Mas quando ele passa a ocupar o lugar da prioridade absoluta, a saúde vira detalhe contábil — e a existência, uma planilha.
A pergunta que fica não é sobre cifras, mas sobre valores: que tipo de futuro alguém imagina ter quando hesita em investir no próprio presente biológico?
Há quem acumule recursos como se estivesse comprando tempo, mas se esquece de que tempo não se negocia, apenas se vive.
Guardar dinheiro pode ser sinal de responsabilidade; negligenciar cuidados essenciais por apego ao saldo pode ser sinal de que a vida já está sendo vivida pela metade.
No fim, não se trata de julgar escolhas individuais — cada realidade tem suas dores e limitações —, mas de refletir sobre prioridades.
Quem trata a própria saúde como gasto supérfluo, talvez esteja dizendo, ainda que em silêncio ensurdecedor, que sua existência é adiada, que seu corpo pode esperar, que sua história não é tão urgente.
E a vida, quando não é urgente para quem a vive, torna-se insignificante demais para ser salva.
Quando a segurança financeira supera a autopreservação, o indivíduo deixa de ser o senhor do seu patrimônio para se tornar o vigia de um tesouro que ele mesmo não usufruirá.
Se quiséssemos ser apenas felizes, isso não seria difícil. Mas como queremos ficar mais felizes do que os outros, é difícil, porque achamos os outros mais felizes do que realmente são.
Num mundo onde quase tudo se polariza, são os asseclas que têm o líder que merecem, não todo um povo.
Pois, onde quase tudo se polariza, tornou-se muito comum culpar povos inteiros pelos desvarios de alguns.
É um erro bastante confortável, porém recheado de injustiça.
Povos são plurais, contraditórios, cheios de silêncios e consciências que não gritam.
Quem grita costuma ser minoria — mas faz barulho suficiente para parecer maioria.
Os Asseclas Apaixonados, esses sim, escolhem.
Escolhem seguir sem questionar, repetir sem compreender, defender sem ponderar.
Não são conduzidos apenas pela falta de opção, mas pela abdicação do senso crítico.
O líder que os representa não surge do nada: ele se molda à conveniência dos que preferem terceirizar o próprio juízo em troca de pertencimento.
Já o povo… o povo trabalha, sofre, discorda em silêncio, resiste como pode.
Nem sempre tem voz, nem sempre tem palco.
Generalizá-lo é repetir a injustiça que a polarização produz: reduzir a complexidade humana a rótulos fáceis.
Por isso, quando um líder se revela pequeno, autoritário ou ruidoso demais, não é todo um povo que ele traduz — são apenas os que o seguem de olhos fechados.
A Responsabilidade não é coletiva por conveniência; é individual por Escolha.
E é essa distinção que impede que a crítica vire preconceito, e que a lucidez se perca nos ruídos dos extremos.
Haja Humanidade para ter empatia com os cegos — Haja Idiotice para passar pano para os que acham que enxergam.
É preciso muita humanidade para estender a mão aos que não enxergam — não apenas aos cegos dos olhos, mas aos que a vida cegou por dentro: pela dor, pela falta de oportunidade, pelo medo e pela ignorância involuntária.
Ter empatia é reconhecer que ninguém escolhe tropeçar na própria escuridão.
É compreender que há sombras que não são opções, mas circunstâncias.
Outra coisa, bem diferente, é passar pano para quem acha que enxerga tudo com nitidez absoluta.
Há uma cegueira mais perigosa do que a ausência de visão: a arrogância de quem acredita possuir toda a luz.
Esses não tropeçam por falta de claridade, mas por excesso de soberba.
Não precisam de compaixão indulgente, precisam de confronto honesto — porque a falsa lucidez costuma ferir mais do que a própria escuridão.
Ser humano é saber distinguir fragilidade de presunção.
É acolher o erro de quem tenta aprender e questionar a postura de quem recusa aprendizado.
Empatia não é cumplicidade com o engano deliberado; é solidariedade com a limitação sincera.
No fim, a maturidade moral talvez esteja nisso: abraçar os que caminham no escuro sem escolha e desafiar os que, mesmo sob o sol, insistem em fechar os olhos — mas juram, com convicção quase agressiva, que são os únicos capazes de ver qualquer coisa.
Bastou o encardido encontrar o ponto fraco do povo — esse abismo sutil entre a religiosidade e o fanatismo — para politizar as igrejas.
A religiosidade, quando saudável, nasce da consciência da própria fragilidade.
Ela é ponte: liga o humano ao divino, o erro ao arrependimento, a culpa ao perdão.
Já o fanatismo é muro.
Ele não aproxima; separa.
Não ilumina; incendeia.
Não convida ao amor; convoca à guerra.
Entre uma coisa e outra existe um terreno perigoso: o ego travestido de fé.
É ali que discursos políticos encontram abrigo, não para servir, mas para dominar.
Quando a fé deixa de ser transformação interior e passa a ser instrumento de poder exterior, o altar vira palanque — e o púlpito, trincheira.
Não é a política que contamina a fé; é o coração que, seduzido por certezas absolutas, troca o Evangelho pela ideologia.
O problema não está em cidadãos que creem participar da pública — isso é legítimo.
O problema começa quando a fé deixa de ser farol moral e se torna escudo partidário.
O fanático não se percebe capturado, acredita estar defendendo Deus, quando, na verdade, está defendendo homens.
E homens passam.
Projetos passam.
Mandatos também.
Mas o dano causado quando se confunde Reino com governo terreno atravessa gerações.
Talvez o maior sinal de maturidade espiritual seja justamente este: saber que Deus não precisa de cabos eleitorais, nem de militantes inflamados, mas de consciências coerentes.
A fé que se ajoelha não precisa gritar.
A fé que ama não precisa esmagar.
A fé que é verdadeira não teme perder espaço político, porque jamais dependeu dele para existir.